Dois Destinos se Encontram, Run for the Sun, 1956, Roy Boulting
Mais Forte que a Vida, The Purple Heart, 1944, Lewis Mileston
Benedetta, 2021, Paul Verhoeven
Na Mira da Morte, Targets, 1968, Peter Bogdanovich
Drive My Car, Doraibu mai kâ, 2021, Ryûsuke Hamaguchi
O Testamento do Dr. Mabuse, Das Testament des Dr. Mabuse, 1933, Fritz Lang
A Tragédia de Macbeth, The Tragedy of Macbeth, 2021, Joel Coen
Narciso Negro, Black Narcissus, 1947, Michael Powell e Emeric Pressburger
Traviata '53, 1953, Vittorio Cottafavi
Desejo Humano, Human Desire, 1954, Fritz Lang
A Besta Humana, La bête humaine, 1938, Jean Renoir
Glória, Série de TV, 2021, Pedro Lopes
Reação Mortal, Motorcycle Gang, 1994, John Milius
A Revolta dos Gladiadores, La rivolta dei gladiatori, 1958, Vittorio Cottafavi
Cães Raivosos, Cani arrabbiati, 1974, Mario Bava
Irene, a Teimosa, My Man Godfrey, 1936, Gregory La Cava
Vênus, Deusa do Amor, One Touch of Venus, 1948, William A. Seiter
O Golem, Der Golem, wie er in die Welt kam, 1920, Paul Wegener e Carl Boese
Anjo ou Demônio? Fallen Angel, 1945, Otto Preminger
Diário de um Jornalista Bêbado, The Rum Diary, 2011, Bruce Robinson
Titane, 2021, Julia Ducournau
A Vida Íntima de Pippa Lee, The Private Lives of Pippa Lee, 2009, Rebecca Miller
O Grito da Selva, The Call of the Wild, 1935, William A. Wellman
Dr. Mabuse parte 1 o Jogador, Dr. Mabuse, der Spieler, 1922, Fritz Lang
Dr. Mabuse, parte 2 - O inferno do Crime (1922), 1922, Fritz Lang
Ao Cair da Noite, Moonrise, 1948, Frank Borzage
Jack, o Estripador, Jack the Ripper, 1959, Robert S. Baker e Monty Berman
O Beco do Pesadelo, Nightmare Alley, 2021, Guillermo del Toro
O Beco das Almas Perdidas, Nightmare Alley, 1947, Edmund Goulding
A Dama Desconhecida, Lady on a Train, 1945, Charles David
Nem um Passo em Falso, No Sudden Move, 2021
Zona Proibida, Rope of Sand, 1949, William Dieterle
Os Assassinatos da Rua Morgue, Murders in the Rue Morgue, 1932, Robert Florey
A Casa Sinistra, The Old Dark House, 1932, James Whale
A Aventura, L'avventura, 1960, Michelangelo Antonioni
A Noite, La notte, 1961, Michelangelo Antonioni
O Eclipse, L'eclisse, 1962, Michelangelo Antonioni
Eros, 2004, Michelangelo Antonioni, (segment "The Dangerous Thread of Things"), Steven Soderbergh (segment "Equilibrium"), Kar-Wai Wong (segment "The Hand")
Vítimas da Tormenta, Sciuscià, 1946, Vittorio De Sica
A Maleta Fatídica, Nightfall, 1956, Jacques Tourneur
Belfast, 2021, Kenneth Branagh
King Richard: Criando Campeãs, King Richard, 2021, Reinaldo Marcus Green
Ouro Para Um Pistoleiro, Where the Hell's That Gold?!!?, 1988, Burt Kennedy
Sexta-Feira 13, Black Friday, 1940, Arthur Lubin
Um Estranho na Escuridão, I See a Dark Stranger, 1946, Frank Launder
As Três Máscaras do Terror, I tre volti della paura, 1963, Mario Bava
No Tempo das Diligências, Stagecoach, 1939, John Ford
Una donna libera, 1954, Vittorio Cottafavi
Mães Paralelas, Madres paralelas, 2021, Pedro Almodovar
Relâmpago, Inazuma, 1952, Mikio Naruse
A Garota Húngara, Félvilág, 2015, Attila Szasz
Expresso Transiberiano, Transsiberian, 2008
Filho Único, Hitori musuko, 1936, Yasujiro Ozu
O Cardeal, The Cardinal, 1963, Otto Preminger
O Mistério do Farol, Keepers, 2018, Kristoffer Nyholm
Kimi: Alguém Está Escutando, Kimi, 2022
15/01/22
Dois Destinos se Encontram, Run for the Sun, 1956, Roy Boulting
Filme no iutubi aqui
Kathy Connors (Jane Greer), da equipe editorial da revista View, viaja para San Marcos, uma remota vila de pescadores mexicana, em busca do romancista e aventureiro Mike Latimer (Richard Widmark), que abandonou a escrita "no auge de sua fama". Ao encontrá-lo, ela descobre que ele está simplesmente “vivendo a vida”: bebendo, pescando, caçando e pilotando seu avião. Kathy tenta convencê-lo a voltar a escrever, escondendo seus verdadeiros objetivos, enquanto Latimer começa a se sentir atraído por ela. Depois de Latimer explicá-la que sua esposa foi a musa por trás de seu sucesso literário e que ele parou de escrever porque ela o deixou, Kathy decide voltar para Nova York. Latimer se oferece para levá-la até a Cidade do México, em seu avião. Durante o voo, o avião se desvia do curso e eles caem em uma pequena clareira, no meio da selva, sendo socorridos por um inglês chamado Browne (Trevor Howard) e Van Anders (Peter van Eyck), um holandês que se apresenta como doutor em Arqueologia. Latimer sente que algo está errado e resolve fugir com Kathy, através da selva. Browne e Van Anders decidem capturá-los, pois temem que eles possam revelar quem, na realidade, eles são. Tem início uma verdadeira caçada pela selva, com um final que pode ser imprevisível para todos …
16/01/22
Mais Forte que a Vida, The Purple Heart, 1944, Lewis Milestone
Filme no iutubi aqui
Quatro meses após o ataque a Pearl Harbor, um esquadrão aéreo dos EUA é destacada para bombardear Tóquio em retaliação. Durante a operação alguns aviões americanos são derrubados, e os pilotos sobreviventes veem nenhuma chance de serem resgatados.
Em tempo: um filme que podemos definir como uma patriotada.
18/01/22
Benedetta, 2021, Paul Verhoeven
Em ‘Benedetta’, Paul Verhoeven faz provocação a elementos religiosos. Cinema transgressor de diretor holandês vai ao norte da Itália no século 17 e conta a história ambígua de uma freira
Luiz Carlos Merten, Especial para o Estadão, 13 de janeiro de 2022
No seu retorno de Cannes, a revista Cahiers du Cinéma estampou na capa os quatro melhores filmes do festival em 2021. Annette, de Leos Carax, Benedetta, de Paul Verhoeven, Drive My Car, de Ryusuke Hamaguchi, e France, de Bruno Dumont. Cahiers ignorou o vencedor da Palma – Titane, de Julia Ducorneau – e também colocou o Verhoeven na sua lista de melhores do ano, na edição de dezembro. Benedetta já passou pela Mostra e pelo Mix Brasil. Estreia nesta quinta, 13, nos cinemas brasileiros. Depois de Elle, a nova provocação do grande diretor holandês chega com tudo para ser, no Brasil, um dos grandes filmes do ano que se inicia.
Elementos religiosos sempre impregnaram o cinema de Verhoeven. O escritor gay e católico de O Quarto Homem, de 1983 – no começo da carreira do autor, na Holanda –, tem pesadelos que se apropriam de símbolos como crucifixos e terços. No mesmo filme, a aranha, na cena inicial, tece a teia profana que vai colocar tudo em discussão. Em Benedetta, há uma serpente – lembrem-se de Adão e Eva no Paraíso. Em 2011/12, Verhoeven publicou um livro sobre Maria, em que a Virgem da Igreja Católica dá à luz um filho – Jesus – após ser estuprada por um soldado romano. O diretor bem que tentou adaptar seu romance, mas não encontrou clima. Terminou voltando-se para um obscuro episódio da crônica italiana do século 17 que inspirou a escritora Judith C. Brown em Irmã Benedetta, Entre Santa e Lésbica.
Na história, Benedetta (Virginie Efira) se considera a escolhida de Cristo – sua noiva – e se torna objeto de adoração na cidadezinha que ainda vive sob preceitos que parecem datar da Idade Média. Benedetta tem visões – e engrossa a voz para torná-la ameaçadora, falando como o próprio Deus, ou como Jesus. Apresenta as feridas da stigmata, mas existem suspeitas de que esteja forjando a própria eleição divina, infligindo-se os ferimentos. Uma conversa da Madre Superiora com o núncio admite a possibilidade, mas predomina a tese de que a Igreja pode beneficiar-se com a fraude, transformando a cidade em centro de devoção de peregrinos, com vantagens econômicas e institucionais.
LÁGRIMAS DE SANGUE.
Há quase 60 anos, ocorria algo semelhante no primeiro e mais controverso episódio de O Cardeal, de Otto Preminger, de 1963. O homem em choque com a instituição – a Igreja. Na cidade interiorana, a estátua da Virgem começa a chorar lágrimas de sangue. Fica provado que são o efeito de um vazamento no teto somado à tinta da pintura da santa. Não tem milagre nenhum, mas quando Tom Tryon, o futuro cardeal, leva o episódio a seu superior ouve que Deus, muitas vezes, se manifesta por vias inesperadas. Não terá sido Ele, o Divino, que provocou o vazamento? Um pouco dessa discussão reaparece no Verhoeven. Irmã Benedetta torna-se uma influência nociva no convento.
Desafia a superiora, mantém com uma noviça (Bartolomea) uma relação carnal. A Bíblia já guardou revólveres em westerns – e em dramas, como O Mensageiro do Diabo, de Charles Laughton, de 1955 – que marcaram época, mas a Bíblia de Benedetta abriga um crucifixo cuja base foi esculpida para virar um simulacro de genitália masculina que Bartolomea (Daphné Patakia) e ela usam em suas brincadeiras. Sexo – e peste. A ambiguidade moral do longa de Verhoeven manifesta-se na forma como Benedetta invoca a peste contra aqueles que querem mostrar a falsidade de sua vocação, e a peste realmente chega com seu cortejo de vítimas. Pode-se argumentar que chegaria, de qualquer maneira, mas no contexto de fanatismo religioso do filme a palavra de Benedetta é sagrada.
É o que está em discussão no Verhoeven. Como sempre, o épico e o íntimo são tratados como grande espetáculo, o filme histórico torna-se contemporâneo e a carnalidade é levada ao limite da histeria. Para Cahiers, ao limite sanguinolento da escatologia. O confronto entre o sagrado e o profano, entre o Verbo e a fisicalidade está na essência do cinema transgressor de Verhoeven. E ele transgride dentro da grande indústria. É forte, muito forte.
Luiz Zanin Oricchio
Paixão mística e furor da carne somam-se em Benedetta. Como de hábito, a linguagem proposta por Paul Verhoeven para contar essa história é marcada pela intensidade e pela e pela proximidade do corpo das personagens. É carnal. Vem dessa opção o potencial de escândalo do filme, desde sua estreia no Festival de Cannes. O impulso místico, associado à sua faceta sexual, encontram-se no corpo da monja Benedetta, magnificamente interpretada por Virginie Evira.
Estamos no norte da Itália, numa Renascença muito ainda com um pé na Idade Média. A menina Benedetta, já com fama de milagreira, é negociada para um convento por seus pais. Trata-se de uma transação comercial, em que as famílias pagam - e caro - para que suas filhas sejam adotadas pela Igreja. A história, tratada com liberdade ficcional por Verhoeven, é a da irmã Benedetta Carlini, que se torna abadessa em Peccia. Tida como santa por uns, devassa e blasfema por outros, enfrenta o tribunal da Santa Inquisição em 1626.
Sob as ordens de uma madre superiora interpretada por Charlotte Rampling, a garota Benedetta cresce. Transforma-se numa jovem bonita e presa de seus devaneios e delírios. A arte de Verhoeven é relacionar o despertar do desejo na relação mística da adoração ao Cristo. Essa combinação explosiva forma-se no corpo da menina feita mulher. A faísca para o incêndio será a chegada de uma jovem ao convento, Bartolomea (Daphne Patakia).
As cenas de amor entre Benedetta e Bartolomea fazem a fama de escândalo desse filme destemido. Mas Verhoeven não se limita à dimensão da alcova. Coloca seu estilo realista e febril a serviço de outros aspectos presentes - a começar pelo jogo de poder presente no microcosmo do convento, réplica de uma sociedade em convulsão. Nesta, a passagem de um cometa pelos céus, prenunciando o Apocalipse, anuncia a eclosão da Peste Negra e a presença do espectro da morte no cotidiano das pessoas.
Medo, superstição, violência, eleição de bodes expiatórios, autoritarismo, oportunismo político - tudo isso faz com que a história antiga da “monja lésbica” salte do passado longínquo, ganhe vida e reverbere em nosso presente. Épocas tão diferentes, mas às vezes tão parecidas.
.........
O martírio foi negado à Irmã Benedetta Carline. Ela viveu até os setenta enclausurada no convento de Treatines. Ela poderia assistir a missa e jantar com suas irmãs, mas sentada no chão. A praga que devastou o país poupou completamente a cidade de Pescia
Benedetta Carlini. Wiki
‘Benedetta’: ‘É uma feminista pioneira, que ganhou poder numa sociedade masculina’, diz diretor
Por Rodrigo Fonseca, Gshow — Rio de Janeiro
13/01/2022
Na Mira da Morte, Targets, 1968, Peter Bogdanovich
Writers: Peter Bogdanovich(screenplay), Polly Platt(story), Samuel Fuller (screenwriter)
Rubens Ewald Filho
Estréia na direção do crítico Peter Bogdanovich (que também atua no filme), com a ajuda do produtor Roger Corman. Com um mínimo de orçamento, ele aproveitou cinco dias que Karloff lhe devia de um antigo contrato (o que seria 25 mil dólares). Então, teve de inventar uma quase participação especial dele, no meio de uma outra história paralela. Faz então uma alegoria da violência na tela (com uma exibição do filme "O Terror de Corman", com Karloff e Jack Nicholson) com a realidade (o psicopata que saiu matando gente, inspirado em um fato verdadeiro).
Embora tenha ficado com cara de filme B (orçamento 124 mil, incluindo o salário de Karloff), a fotografia seja irregular e os coadjuvantes ruins, o diretor preferiu não usar trilha musical. O filme é muito esperto e engenhoso. Karloff tem seu momento de canto do cisne (embora tenha feito outros quatro filmes pequenos e ruins antes de morrer, esta é sua despedida oficial, demonstrando um grande carisma e talento, em particular quando narra a história "Encontro em Samarra").
16/01/22
Drive My Car, Doraibu mai kâ, 2021, Ryûsuke Hamaguchi
Adaptado de um conto de Haruki Murakami, “Drive My Car” segue duas pessoas solitárias que acham coragem para enfrentar o seu passado. Yusuke Kafuku (Hidetoshi Nishijima) é um ator e diretor de sucesso no teatro, casado com Oto (Reika Kirishima), uma linda roteirista com muitos segredos, e com quem divide sua vida, seu passado e colaboração artística. Quando Oto morre repentinamente, Yusuke é deixado com muitas perguntas sem respostas de seu relacionamento com ela e arrependimento de nunca conseguir compreendê-la. Dois anos depois, ainda sem conseguir sair do luto, ele aceita dirigir uma peça no teatro de Hiroshima e vai com seu precioso carro Saab 900. Lá, ele encontra e tem que lidar com Misaki Watari (Toko Miura), uma mulher e motorista com que tem que deixar seu adorado carro. Representante do Japão no Oscar 2022 de Filme Internacional. Venceu 3 prêmios no Festival de Cannes 2021: Melhor Roteiro, prêmio FIPRESCI (da Crítica Internacional) e o Prêmio do Júri Ecumênico.
Drive My Car, por Sérgio Alpendre
Para um filme que tem sido saudado como uma das maiores maravilhas dos últimos tempos, Drive my Car, de Ryusuke Hamaguchi,tem lugares comuns em quantidade preocupante. Não penso somente na cena da descoberta de traição após uma viagem cancelada, toda filmada da maneira mais óbvia possível, mas também em diálogos como o que explica do que faleceu Oto Kafuku (Reika Kirishima), esposa do ator e diretor de teatro Yusuke Kafuku (Hidetoshi Nishijima): “uma hemorragia cerebral, tão repentino”, ou algo parecido, diz alguém no funeral. Pior ainda que mais adiante o viúvo vai falar o mesmo motivo para outra personagem. Custava deixar alguns minutos no mistério para evitar o diálogo explicativo?
Há ainda cenas de sexo publicitárias. Por mais que o cinema japonês recente esteja cheio delas, uma herança mal resolvida do roman porno, é curioso ver diretor tão incensado pela maior parte da crítica e da cinefilia ser tão convencional nesses e em alguns outros momentos.
Fim do prólogo
Os créditos surgem após 40 minutos de filme, e é quando termina o prólogo da esposa e começa o motivo principal contido no título: dirija meu carro. E aí vemos o envolvimento de Yusuke Kafuku com Misaki (Toko Miura), funcionária de um festival em Hiroshima. Encarregada de dirigir o carro para ele, ela acaba dirigindo muitas outras coisas. Será a responsável por colocar a vida desse homem atormentado em um processo de superação.
E nesse processo, acontece algo também na forma do filme: é como se iniciasse um combate contra os lugares comuns da primeira parte – os lugares do marido, do ator, do viajante, um tom meio blasé que vai sendo desconstruído nesse novo ambiente. O hábito de Yusuke de repetir as falas da peça em que está trabalhando enquanto dirige, por exemplo, é prejudicado pela insistência do festival em não permitir que os artistas dirijam, exigência devida a um atropelamento causado por um artista do festival no passado. E mesmo o combate aos lugares comuns será também prejudicado pela aparição de outros lugares comuns, ainda que mais escondidos pelo nosso envolvimento com a narrativa, que finalmente decola na segunda hora.
A segunda hora
O filme vai funcionando em etapas, e a previsibilidade de algumas cenas não atrapalha nossa fruição. Pelo contrário, ela permite que nos atentemos a alguns detalhes. Quando começa a leitura conjunta do texto, o filme cresce também por conta dos olhares de Yusuke, que não sabemos ao certo se são de aceitação ou preocupação, numa interpretação extraordinária de Hidetoshi Nishijima.
Pouco depois acontece a melhor cena até então, o momento em que o filme cresce: quando Kafuku e a motorista vão jantar na casa do assistente e de sua esposa muda, também atriz da peça que estão ensaiando (e o convite do assistente já nos deixa antever o que irá ser revelado). Durante o jantar, com a esposa falando por sinais e traduzida pelo marido, a graça acontece: ao elogio de Kafuku, Misaki sai da mesa e do quadro. Só após um tempo, há uma correção da câmera e vemos que ela tinha ido brincar com o cachorro do lado da mesa, numa reação à falta de jeito com o elogio recebido. Não faz sentido reclamar de previsibilidade quando o filme nos brinda com detalhes belos como esse.
Perto da convenção
Hamaguchi trabalha com a convenção, ou perto da convenção, o que pode desconcertar quem espera sempre novidades do cinema, ainda mais de um diretor tão elogiado. As reações dos personagens são as esperadas, sem surpresa alguma. Assim é, inicialmente, a relação do diretor Kafuku com o jovem ator Takatsuki (Masaki Okada). Mas aí, em dado momento, temos uma feliz distorção.
Na tentativa de quebrar o deslumbre técnico do jovem ator, Kafuku tira-lhe o chão, e os caminhos dos dois se cruzam de modo conflituoso, mas proveitoso para ambos. A experiência de um procura corrigir o que a energia do outro estraga, ou impede que se chegue a uma qualidade maior. No fundo, vemos o famoso querendo ser realmente artista, e o artista verdadeiro fazendo com que esse processo seja doloroso, talvez para ser mais eficaz e convincente.
Nas três horas de duração, Drive My Car nos oferece esses encantos, que superam de longe os lugares comuns. Pode não ser a obra-prima que muitos têm pintado, mas é um filme que sugere Hamaguchi como uma força bem-vinda no cinema japonês contemporâneo. Esperemos que a glória, chegando cedo demais, não coloque tudo a perder.
石橋英子 | Eiko Ishibashi | Drive My Car (Kafuku) (Official Audio)
SONIA
- O que se pode fazer? Viver é preciso! (Pausa) E nós viveremos, tio Vania, viveremos a longa, longa sequência de dias e de noites. Suportaremos com paciência os golpes do destino; trabalharemos sem descanso pelos outros, agora e na velhice, e quando chegar a nossa hora morreremos em paz, e lá, além do túmulo, diremos que sofremos, choramos, tivemos muitas tristezas, e Deus então se apiedará de nós, e ambos – você e eu, querido titio – conheceremos uma vida maravilhosa, cheia de luz, a alegria nos invadirá, e olharemos com um sorriso emocionado nossa infelicidade de agora – e descansaremos. Tenho fé nisso, titio, creio ardentemente, apaixonadamente... (Ajoelha-se diante dele e apóia a cabeça em seu braço; com a voz cansada) Descansaremos. (Teleguin toca o violão suavemente.) Descansaremos! Ouviremos os anjos e contemplaremos o céu cravejado de diamantes e veremos que toda a maldade terrestre, todos os sofrimentos, mergulharão na misericórdia que encherá o universo, e nossa vida será tão tranqüila, terna e doce quanto uma carícia. Eu creio nisso, eu creio... (Com o lenço enxuga as lágrimas do tio) Pobre, pobre tio Vania, você está chorando... (Entre lágrimas.) Você não conheceu a alegria em sua vida, mas espere, tio Vania, espere... Descansaremos... (Abraça-o). Descansaremos! (O guardanoturno matraqueia. Teleguin toca suavemente. Maria Vasilievna faz uma anotação na margem do folheto; Marina tricota a meia) Descansaremos! (Tio Vânia - Tchekhov)
Sônia em Drive my car
Estou infeliz. Se você soubesse o quão infeliz eu estou. O que podemos fazer? Temos que viver nossas vidas. Sim, temos que viver, tio Vânia. Viveremos dias muito,muito longos. E noites muito longas. Enfrentaremos os desafios que o destino enviará ao longo de nosso caminho. Mas não poderemos descansar,teremos que trabalhar para os outros.
Agora e quando estivermos velhos. E quando chegar a nossa hora
partiremos em paz. E na vida após a morte,contaremos ao Senhor que sofremos, que choramos. Que a vida foi difícil. E Deus... terá misericórdia de nós. Então você e eu... veremos aquela vida
brilhante e maravilhosa que sonhamos,diante de nossos olhos.Devemos nos alegrar com sorrisos ternos em nossos rostos,vamos olhar para trás em nossa dor.E finalmente,descansaremos.
Eu acredito nisso. Acredito fortemente nisso, do fundo do meu coração. Quando chegar a hora, descansaremos.
O Testamento do Dr. Mabuse, Das Testament des Dr. Mabuse, 1933, Fritz Lang
O filme no iutube: O Testamento do Dr Mabuse
Versão colorida aqui
Outra cópia aqui
Crítica, Eduardo Kaneco
Fritz Lang retoma o arquivilão de seu “Dr. Mabuse, o Jogador” (1922) na intrincada estória de “O Testamento do Dr. Mabuse”, onze anos depois, com o mesmo ator, Rudolf Klein-Rogge.
O Dr. Mabuse está moribundo, preso em um manicômio. Mesmo assim, ele ainda consegue colocar em marcha seu derradeiro plano de roubos e caos. E faz isso ao controlar a mente do respeitado médico Dr. Baum, que comanda um grupo de malfeitores anonimamente, gravando as ordens e reproduzindo-as como se estivesse presente no quartel general dos criminosos. Então, cabe ao Inspetor Lohmann desvendar quem é o responsável pelos atos criminosos que assolam a cidade de Berlim.
Influência subversiva
O tom sério do filme exala uma ameaça que assusta porque aborda crimes que podem de fato acontecer. Por isso, o governo nazista proibiu sua exibição na Alemanha, preocupado com a influência subversiva que a obra poderia causar em uma época de ditadura. O fato de Fritz Lang já ser um cineasta respeitado – ele já realizara “Metrópolis” (1927) e “M, O Vampiro de Dusseldorf” (1931) – não impediu a censura. E, como, posteriormente, Lang não aceitou o convite de trabalhar no Instituto de Cinema nazista, fugiu para a França e depois para os Estados Unidos em 1934. “O Testamento do Dr. Mabuse” foi, portanto, o seu último filme alemão antes do exílio. Mas, em 1960, ele voltaria a filmar o icônico vilão em “Os Mil Olhos do Dr. Mabuse”, rodado na Alemanha.
A peça central para a resolução da trama é o jovem Thomas Kent, um dos bandidos do Dr. Baum, que se arrepende e busca se redimir diante do amor incondicional mostrado por sua namorada Lilli. Porém, os traidores da gangue são friamente executados e esse poderá ser o destino de Kent e Lilli, quando são trancados em um quarto vazio com uma bomba escondida. Em um filme repleto de cenas filmadas com maestria por Fritz Lang, essa sequência provavelmente supera todas.
A bomba prestes a explodir
Lang compartilha a regra de Hitchcock para se criar um clima de suspense. Os espectadores sabem que existe uma bomba prestes a explodir e, então, os personagens precisam descobrir rapidamente como fugir daquele local. Aumenta o mistério o fato de descobrirem que o chefe da quadrilha, na verdade, não estava ali, pois era apenas sua voz gravada que estava ali escondida atrás da cortina dando ordens. O casal passa, então, a arrancar as madeiras do teto, cavar buracos no piso, desesperadamente, para descobrir uma saída ou a própria bomba para tentar desativá-la. Até que (atenção: spoiler), Kent vê um cano de água e inunda o local para abafar a explosão iminente.
Essa cena de “O Testamento do Dr Mabuse” é tão moderna que parece uma variação de “Jogos Mortais” (Jigsaw, 2004), o aterrorizante filme que virou sucesso mundial e gerou várias sequências. Na franquia, há um vilão anônimo que transmite as instruções às suas vítimas através de um aparelho sonoro, e elas terão que desvendar um quebra-cabeças para conseguirem encontrar a saída da armadilha em que estão. Ou seja, uma ideia semelhante ao que Fritz Lang criou para esse seu clássico de 1933. Vejam aí o pioneirismo deste cineasta soberbo.
Eduardo Kaneco , 22/03/2018
19/01/22
A Tragédia de Macbeth, The Tragedy of Macbeth, 2021, Joel Coen
Tragédia da cena final de Macbeth muda o significado do final de Shakespeare, March 01, 2022, DentroOriginais Sr
Joel Coen A Tragédia de Macbethfaz sua mudança mais crítica na peça original de Shakespeare em seus momentos finais, com uma cena que muda drasticamente o significado da história. O filme de 2021 é em grande parte fiel à peça clássica, fazendo poucas alterações no texto original de Shakespeare. No entanto, uma cena sem palavras logo antes dos créditos é uma nova adição à história que torna o final de Macbeth muito menos definitivo do que foi originalmente escrito.
Lançado nos cinemas e no AppleTV+, A Tragédia de Macbeth é uma nova visão sobre o clássico de Shakespeare frequentemente adaptado. O filme é filmado em preto e branco e estrelado por Denzel Washington como Macbeth e Frances McDormand como Lady Macbeth. É o primeiro filme dirigido sozinho por Joel Coen, mais conhecido por seus filmes com seu irmão Ethan Coen. A Tragédia de Macbeth recebeu elogios consideráveis, incluindo várias indicações ao Oscar, por sua nova abordagem em material familiar.
A cena final representa a maior divergência na visão de Coen
Tragédia de Macbeth. O último minuto do filme revela que o filho de Banquo, Fleance, dado como morto, ainda está vivo, e que ele está sendo escondido no campo por Ross. Na peça original, Fleance escapa dos assassinos que Macbeth enviou atrás de sua família, e a profecia das três bruxas sugere que ele irá gerar uma longa linhagem de reis. Fleance nunca retorna no texto original de Shakespeare, mas várias adaptações para a tela, como Orson Welles Macbeth e de Akira Kurosawa Trono de Sangue, tê-lo retornando nos momentos finais. No entanto, A Tragédia de Macbeth acrescenta uma ruga diferente ao colocar Fleance sob a custódia de Ross, que desempenhou um papel moralmente ambíguo ao longo do Versão estrelada por Denzel Washington.
A peça original de Shakespeare termina com Malcolm sendo coroado rei depois que Macduff mata Macbeth. Este final era comum em tragédias shakesperianas como Aldeia e Rei Lear. Depois de muitas mortes, essas peças terminam com um forasteiro chegando para restaurar uma monarquia benevolente. Esses finais foram uma maneira de fornecer uma resolução esperançosa após uma conclusão sangrenta e evitar irritar os patronos reais de Shakespeare.
No entanto, A Tragédia de MacbethO final de 's interrompe esta resolução. Isso reflete o aumento do papel de Ross na adaptação de Coen, que transforma o personagem de um pequeno jogador em um intrigante silencioso. Como alguns outros Macbeth adaptações, Coen usa Ross como o terceiro assassino enviado após Banquo e Fleance. Usar Ross neste papel sugere que, em vez de os assassinos simplesmente não matarem Fleance, Ross escondeu a criança para ser usada para seus próprios propósitos. Isso poderia configurar uma luta de sucessão diretamente do casas de A Guerra dos Tronos.
Como o rei Duncan morreu sem herdeiro, não há um pretendente claro ao trono escocês no final de Macbeth. A profecia das bruxas diz que Fleance, ou um descendente dele, iniciará uma linhagem de reis, mas Malcolm já reivindicou o trono após a queda de Macbeth. O envolvimento do intrigante Ross e o simbólico bando de corvos que ultrapassa a câmera que leva ao final créditos, sugere que a linhagem de Banquo não tomará o trono pacificamente, e que mais lutas e conflitos serão venha.
Assim, a silenciosa cena final do filme de Coen A Tragédia de Macbeth transforma o final tranquilizador de Shakespeare em uma profecia cínica de mais problemas à frente.
Making Of THE TRAGEDY OF MACBETH - Behind The Scenes & Interview With Denzel Washington | AppleTV+
MACBETH, RAFAEL RAFFAELLI A peça
William Shakespeare (1564–1616) (Writer (1.646 credits de 1898 a 2023). Shakespeare no cinema.
19/01/22
Narciso Negro, Black Narcissus, 1947, Michael Powell e Emeric Pressburger
O filme no iutubi aqui
Desejos reprimidos em Narciso Negro (1947, de Emeric Pressburger e Michael Powell)
1 de junho de 2020. Por Léo Costa
Após assistir ao longa Narciso Negro, é impressionante notar o quanto uma produção de 73 anos atrás era à frente do seu tempo. A trama traz algumas freiras tendo que trabalhar em uma região montanhosa e isolada na Índia. Lá, seus desejos reprimidos, lembranças e frustrações vem à tona, pondo em perigo sua perseverança na fé e na abstinência sexual de seus votos. Apesar de muitos filmes do cinema clássico optarem por uma ótica católica, alguns buscaram por questionar tais doutrinas. E é aqui que Narciso Negro se enquadra de forma mais sutil.
O roteiro foi trabalhado de tal forma que o drama inicialmente apresentado, aos poucos, transforma-se em um inteligente suspense psicológico. Essa mutação na temática é gradual e nada óbvia, subvertendo o que achamos que veríamos de início. Fugindo de exageros e caricaturas dramáticas, vemos a construção psicológica das freiras e como os desafios deste remoto ambiente as muda, as questiona e as faz reavaliarem muitas coisas relacionadas as suas vidas.
A direção da dupla britânica Emeric Pressburger e Michael Powell é segura, firme e extremamente competente. Aqui é preciso dizer que muito possivelmente a perfeição estética do longa se deve a Powell, diretor acima da média para a época, que futuramente seria responsável por A Tortura do Medo (1960), longa lançado juntamente de Psicose do Hitchcock, mas que ficou à sombra do mesmo. Powell e Pressburger dão primazia à uma perfeição técnica em Narciso Negro, com enquadramentos de câmera por vezes centralizados, por vezes trazendo-nos ângulos originais e impensados. Ainda temos belíssimos cenários, fotografia estonteante, figurinos e maquiagens de primeira linha e toda uma mise-en-scène pensada para nos transportar para dentro daquela atmosfera “exótica”, bela e desafiadora.
A trilha sonora também se alia nessa criação de atmosfera, trazendo tanto faixas oníricas, como trilhas tensas, dignas de um filme de terror, principalmente conforme a narrativa caminha para um terceiro ato um tanto assustador. Mesmo que use-se de recursos hoje ultrapassados, visualmente e narrativamente é uma obra forte imageticamente, envelhecendo muito bem.
A atuação da protagonista Deborah Kerr é potente, ela foi uma das grandes de sua geração, vide o assustador Os Inocentes de 1961, que serviu de inspiração para Os Outros. Sua personagem é firme e “fria” de início, mas ganha contornos frágeis conforme o tempo passa nas montanhas e lembranças de sua vida antes da devoção vem à mente. Suas frustrações com o passado se aliam ao medo do futuro, medo de não conseguir continuar com sua vocação espiritual. Esses flashbacks surpreendem pela ruptura do padrão convencional, se parecendo quase que um sonho, um faz de conta, lindamente filmados, como numa cena em que no passado ela caminha para dentro do escuro e retornando ao agora e aos desafios que enfrenta, aquela escuridão que um dia ela entrou se reflete agora nas difíceis escolhas que precisa fazer. Alguém alegre e colorida, agora amargurada e cinzenta.
Além de Deborah Kerr, Kathleen Byron cresce na metade final e no terceiro ato, trazendo uma entrega cênica arrebatadora, assustadora. Protagonista e coadjuvante são dois extremos de um mesmo dilema e o outrora drama, agora culmina em um confronto psicológico estarrecedor.
É aqui que o roteiro assume seu lado crítico. Onde o filme poderia se mostrar defensor do catolicismo, na verdade se põe em xeque a questão da castidade, da carência, de manter uma certa postura diante da simplicidade e os desejos da vida. O rigoroso fervor religioso destrói sonhos, reprime desejos, frustra a vida das personagens e as abala psicologicamente. Quando estas são isoladas em um ambiente com cultura e permissividade diferentes, tudo se confunde. As pessoas, o clima e a ambientação em volta são uma constante “prova de fé”.
Note como a altura da montanha dá a impressão de vertigem e isolamento do mundo lá em baixo, o forte e frio vento assobia o tempo todo, aumentando esta sensação de solidão. Os homens presentes em cena sempre surgem como atraentes de alguma forma, seja pelo auxílio que eles dão, seja pelas provocações dos mesmos. Há uma dificuldade das freiras de se conectarem com as pessoas locais e entenderem algumas coisas, como o guru que fez voto de silêncio e que medita o tempo todo. Há sutis elementos sensuais, como diálogos sobre o proibido, pinturas eróticas da cultura indiana e um improvável jovem casal que surge, onde Jean Simmons é a própria personificação da natural sensualidade feminina.
Todos esses elementos criam uma atmosfera sexual, mesmo sem mostrar nada demais, criando assim o conflito das personagens centrais. Portanto, Narciso Negro surge como uma obra-prima épica à frente do seu tempo, complexa, com camadas, trazendo perturbações, conflitos psicológicos, religiosos e culturais, com um visual espetacular e um clímax construído em uma tensão crescente e assustadora. Uma verdadeira joia do cinema, masterpiece!
20/01/22
Traviata '53, 1953, Vittorio Cottafavi
O filme no iutubi aqui
Em Milão, uma prostituta se sacrifica para evitar a ruína do jovem rapaz que ama.
Baseado em "A Dama das Camélias" de Dumas.
Adaptación de la Dama de las Camelias y la Traviata de Verdi, ambientada en el Milán de los años 50. Carlo Rivelli, un ingeniero de buena posición, acude a una boda familiar, pero antes de entrar en el banquete recibe una nota en la que se le anuncia el delicado estado de salud de Marguerita, un antiguo amor, por lo que abandona apresuradamente la ceremonia. (FILMAFFINITY)
23/01/22
Desejo Humano, Human Desire, 1954, Fritz Lang
O filme no iutubi aqui
Os planos iniciais de Desejo Humano conduzem o espectador por longos trilhos de trem, inserindo-o em um movimento contínuo, um fluxo de imagens. Ao longo do filme – o qual boa parte transcorre dentro de trens -, esta movimentação da câmera sempre acompanhará as transições, como que para indicar um deslocamento perene. Uma das últimas obras da fase hollywoodiana de Fritz Lang, o longa trabalha constantemente com essa ideia de movimentação, sempre transitando entre os estados e os desejos.
Um ex-combatente da Guerra da Coreia e maquinista finalmente retorna a sua casa, onde conhece a esposa de outro funcionário das ferrovias e passa a se envolver com ela após a ocorrência de um assassinato motivado por ciúme e dinheiro por parte de seu marido. O deslocamento está presente na narrativa mesmo no próprio retrato dos personagens: o ex-soldado que retorna ao lar para pilotar trens, a busca pela mulher amada e o vai-e-volta consigo, o crime ocasionado por uma condição intermitente. Tudo isso atrelado ao desejo, a este elemento da psicologia humana que catalisa todas as movimentações.
Lang procura elaborar uma obra cujo suspense e drama se entrelacem, criando uma atmosfera que é ao mesmo tempo assustadora, em certos momentos, e melancólica. Alternando o protagonismo entre o maquinista solitário e apaixonado e a esposa cúmplice do crime, a própria transição entre estas personalidades para progressão da trama implica um deslocamento constante de pontos de vista. Ora nos pegamos encarnados na alma daquele homem quase ridículo com a pose de galã solitário, ora estamos avidamente envoltos na condição dupla da esposa: cúmplice e amante mentirosa. É como se sempre houvesse uma camada a se desdobrar – assim como as mentiras da personagem, que vão sempre se desfazendo, aos poucos, em verdade.
E essas camadas e movimentações estão sem dúvidas atreladas ao desejar – sexualmente, financeiramente ou socialmente. Seja o desejo de uma vida idealizada (voltar aos trens, ir ao cinema), seja o desejo pelo outro como corpo diferente, como amor construído, ou seja pelo dinheiro mesmo. Mas todos estes elementos estão amarrados de maneira a evidenciar que há sempre uma falta, que a solução para os problemas sempre acarreta em um infortúnio do outro lado. Assim, o assassinato leva ao fim de uma relação e o desejo pelo outro leva à mentira e ao engano.
E Lang filma muito bem tudo isso. Há muitos planos fechados em rostos cuja expressão é contida, mas carregada de um peso emocional vibrante. Os confrontos são cercados de tensão através de quartos fechados com uma câmera que sempre se posiciona na lateral, revelando um espaço mais dilatado do que aquele esperado pela realidade. Soa curioso como justamente os momentos de maior carga emocional se realizam sempre no plano contido, no sufocamento.
A morte, o desejo, a mentira, todos estes elementos da psicologia humana se fazem ali, entre quatro paredes, quase como um segredo. Paralelamente, os únicos momentos de desafogo, de respiro, se dão nos trilhos de trens ou nas casas confortáveis, desarrumadas. Um confronto de espaços cadenciado pela movimentação das perspectivas.
Desejo Humano é um filme que se usa de uma roupagem tradicional de suspense para adentrar nas dimensões psicológicas do sujeito. Lang filma de maneira muito consciente e, ainda que em alguns momentos pareça perder aquilo que está em mente, encarna todo seu passado de cineasta consagrado para criar ótimos momentos. Um dos últimos filmes de sua carreira nos EUA, mas ainda apresentando um grande diretor. GABRIEL ZUPIROLI 26 de junho de 2021
23/01/22
A Besta Humana, La bête humaine, 1938, Jean Renoir
A Besta Humana, Eduardo Kaneco , 09/12/2017
Apesar de considerado hoje um dos melhores filmes de Jean Renoir, A Besta Humana não é unanimidade. Um dos maiores críticos de cinema da França, André Bazin, quando escreveu sobre o filme, restringiu-se a opinar que Renoir realizou um filme melhor do que o fraco romance de Émile Zola. Enfim, o que é inegável é a ousadia do diretor.
A força do filme A Besta Humana está nas imagens. Logo no começo, após uma desnecessária introdução sobre o romance de Zola, entra nas telas o trem. Poderoso, agressivo, a sua fornalha queima ardentemente, o apito soa como um grito humano, as engrenagens movem velozmente suas rodas. Renoir posiciona, com coragem, câmeras em uma locomotiva real, a centímetros dos postes e das paredes dos túneis ao longo dos trilhos. Sem dúvida, essa opção por filmar em locação proporciona um realismo que fortalece o filme.
Então, a apresentação de um dos personagens principais vem na sequência. Quem comanda com destreza a locomotiva é Jacques Lantier (Jean Gabin), vestindo máscara de proteção, um acessório que simboliza sua ocasional crise de transtorno de identidade.
A trama
Quando o trem chega à estação Le Havre, surge outro protagonista. Roubaud (Fernand Ledoux) é o chefe da estação, um funcionário da ferrovia como Lantier. Ele é marido da personagem feminina mais importante do filme, Séverine (Simone Simon). O relacionamento do casal não é dos melhores, e se deteriora de vez quando Lantier descobre que sua esposa foi amante de seu padrinho, o ricaço Grandmorin. Rancoroso, Roubaud assassina esse ex-amante, forçando Séverine a ser sua cúmplice.
Em paralelo, descobrimos a faceta obscura de Lantier, quando ele tenta estrangular uma jovem, após forçar um beijo. O trem se aproxima e o faz voltar à razão. Ele declara que esse desvio de comportamento ele herdou dos ascendentes alcoólatras. Como Lantier se encontrava próximo do local do assassinato de Grandmorin em um trem, ele acaba conhecendo Séverine. Em pouco tempos, os dois se tornam amantes, mas reviravoltas desencadearão um destino trágico.
A direção
No entanto, talvez encontremos a maior ousadia de Renoir na sequência da nova tentativa de estrangulamento de Lantier. Ao invés de manter a câmera no local da ação, um corte leva as imagens para uma festa, onde um cantor interpreta com humor a canção “Le Petit Coeur de Ninon”. Quando retorna ao quarto, a vítima já está morta.
Além disso, a estória também é bem corajosa. Em tempos que antecedem a Segunda Guerra Mundial, A Besta Humana antecede o conceito de não aceitar o maniqueísmo. Ou seja, os personagens não são totalmente bons ou maus. Na verdade, os três protagonistas são capazes de matar e de trair, e a guerra logo viria a colocar os seres humanos em xeque.
Por outro lado, a trilha sonora, composta por Joseph Kosma, se destaca como o ponto fraco de A Besta Humana. Em muitas cenas, suas melodias e arranjos musicais não combinam com o que se passa na tela. Por exemplo, os momentos de suspense recebem uma trilha com tons alegres, que acabam afastando o sentimento de inquietação do espectador.
Ainda assim, A Besta Humana envolve o espectador, ansioso por conhecer o destino dos personagens que se afundam numa decadência moral da qual não poderão escapar. Nesse sentido, encontramos no longa metragem características de film noir.
Por fim, surge Lantier novamente no comando de uma locomotiva, controlando com destreza as forças desse animal motorizado. Porém, contraditoriamente, agora sabemos que ele é incapaz de conter seu impulso assassino.
La Bête Humaine - Jean Renoir (1938)
Sobre o filmes de 1938 e a refilmagem de 1954 (Georges Sadoul)
O diretor (Jean Renoir), no filme de 1938, tinha apenas uma vaga lembrança do romance, que está longe de ser o melhor de Zola, e cujos três heróis são Atridas https://pt.wikipedia.org/wiki/Atridas modernos, que a hereditariedade condenava aos piores crimes. (...) Renoir escreveu um roteiro que manteve do romance sobretudo “uma história de amor, no cenário de uma estrada de ferro”.
A abertura, mostrando como um documentário o trajeto Paris - Le Havre visto de uma locomotiva, obra – prima de montagem e eficiente simplicidade foi completada por outra sequência menos impressionante mas igualmente bela, mostrando a vida dos ferroviários em trânsito. Renoir caracterizava assim, desde a exposição, o caráter social de seu herói, apresentando-o no trabalho. Seu impulso para o homicídio manifestava-se (com discrição e força) na breve cena em que Lantier (Jean Gabin) quer matar uma mulher (Blanchette Brunoy) que se entrega a ele, enquanto passa um trem. Em seguida vem o drama, cujos três atos são igualmente admiráveis: o assassinato cometido num expresso por Roubaud (F. Ledoux), a tentativa de matar esse último, no cenário noturno dos trilhos, e por fim o estrangulamento de Severine (Simone Simon).
“Eu tendo a reencontrar a unidade de ação, antes de retornar à unidade de lugar e de tempo” escrevia então Renoir. A obra, sem dúvida superior à Grande ilusão, não chegou a ser um fracasso comercial, mas seu sucesso foi travado por ataques de alguns. (...)
A Besta Humana é transposta para os Estados Unidos contemporâneo. Repetindo Lang: “O filme do Renoir é muito melhor. Eu tinha um contrato, tive que me render ao produtor, que me disse: ‘Não queremos perversão sexual, mas um jovem americano bem correto’. Depois tivemos muita dificuldade para achar uma empresa ferroviária que não nos dissesse: ‘Em nossa linha? Um assassinato? Impossível’”. Autocrítica um pouco severa: várias sequencias são muito boas, dominando a vida ferroviária. (Georges Sadoul, Dicionário de filmes, pp. 55 e 56, L&PM, 1993)
24/01/22
Glória, Série de TV, 2021, Pedro Lopes
'Glória’ retrata aventura fictícia, mas com fundo de verdade
Patrícia Kogut, 21/11/2021
Séries ambientadas na Guerra Fria costumam ter poucas cenas de derramamento de sangue e muita tensão. São os espiões e seus truques e gadgets sensacionais que puxam essas tramas. Assim foi com “The americans”, que já pode (pode sim) ser considerada um clássico. Com “Glória”, primeira produção portuguesa lançada pela Netflix, é um pouco diferente. É que o período retratado na trama — o início dos anos 1970 — coincide com as guerras coloniais.
Angola está convulsionada, assim como Moçambique e a Guiné. Portugal envia suas tropas para tentar conter os movimentos de independência. Esse enredo (dirigido por Tiago Guedes) inclui flash-backs na África, onde o protagonista, João Vidal (Miguel Nunes), lutou, ficou traumatizado e foi recrutado pela KGB.
João Vidal é engenheiro. Ele chega à aldeia de Glória do Ribatejo para trabalhar na RARET, como se chamava uma célula americana que transmitia propaganda ocidental via ondas de rádio para os países do Bloco do Leste. A Polônia, a Tchecoslováquia, a Bulgária, a Romênia e a Hungria estavam na rota dessas mensagens. Em menor medida, os americanos também recebiam um contrafluxo de informação secreta da Cortina de Ferro. A trama é fictícia, mas a Rádio Retransmissão (RARET) realmente funcionou na Glória do Ribatejo com a proteção relativa dos salazaristas.
João se habilita ao trabalho técnico, mas a realidade oculta é outra. Ele foi muito bem treinado por Moscou. O personagem é interessante por suas múltiplas facetas. Seu pai, Henrique (Marcello Urgeghe), ocupa um alto posto no governo Salazar. Depois que o ditador morre, passa a ministro de Marcelo Caetano. João é bem educado e transita bem entre os americanos. Finalmente, conta com as doses necessárias de idealismo e frieza para atuar como agente secreto.
“Glória” tem tensão, ação e romance. O fraco de seu herói são as mulheres e ele se envolve com Carolina (Carolina Amaral), funcionária da lanchonete. A história se abre em subtramas de fôlego. Um exemplo é a do médico Miguel (o ótimo ator brasileiro Augusto Madeira); outra, a do casamento infeliz de Sofia (Maria João Pinho), que sofre violência em casa.
A reconstituição de época é minuciosa, mas, eventualmente, cai na ingenuidade. Os exageros do esforço formalista embaçam a naturalidade, criando um “degrau”. Um exemplo: os carros antigos são tão numerosos nas cenas que o resultado é eventualmente artificial, de encenação. O mesmo acontece com as locações, todas elas lindas e... com cara de locações. Mas nada disso atrapalha seriamente a série e Portugal faz uma estreia muito feliz na Netflix. São dez episódios. O primeiro terço parece confuso e morno. Mas, do meio para o final, a voltagem sobe muito até chegar a um encerramento surpreendente. Merece toda a sua atenção.
24/01/22
Reação Mortal, Motorcycle Gang, 1994, John Milius
O filme no iutubi aqui
Casal em crise põe de lado as diferenças quando a filha é raptada por gangue de motociclistas. O pai, um ex-militar das forças armadas, decide reagir à sua maneira.
24/01/22
A Revolta dos Gladiadores, La rivolta dei gladiatori, 1958, Vittorio Cottafavi
O filme no iutubi aqui
Marcus Numidius (Ettore Manni), um tribuno romano enviado à Armênia para conter uma revolta de gladiadores, captura o líder popular dos rebeldes, Aselepius (Georges Marchal). A Princesa Amira (Gianna Maria Canale), com ambições de ser rainha e com inveja da popularidade Asclepius, planeja sua morte na arena.
25/01/22
Cães Raivosos, Cani arrabbiati, 1974, Mario Bava
O filme no iutubi aqui
Rabid Dogs, ficou conhecido como "o filme perdido de Mario Bava" desde 74, quando o financiador da produção morreu, impedindo seu lançamento. Porém, vinte anos depois esta pérola foi resgatada da obscuridade por uma companhia de cinema. No filme, três assaltantes em fuga da polícia sequestram uma jovem mulher, um homem e seu filho doente, os colocam no carro e pegam estrada.
Crítica | Cães Raivosos, Matheus Petris
Existe uma espécie de contradição Baviana proposital nos planos iniciais de Cani Arrabbiati (Rabid Dogs): Bava inicia seus filmes, quase sempre, como uma carta-resumo; aqui, isso acontece e não acontece ao mesmo tempo. Diferente, portanto, dos momentos iniciais de La frusta e il corpo (The Whip and the Body) (de que falei aqui), e da denotação de “caminho sem volta” ou de “novo percurso”, exemplificados pelos planos do avião chegando, no início dos filmes La ragazza che sapeva troppo (The Girl Who Knew Too Much) e Gli orrori del castello di Norimberga (Baron Blood).
O primeiro plano do filme é um plano fixo: uma cortina rosa avermelhada esconde o corpo de uma mulher que, de costas, parece gritar por socorro, um grito de dor e agonia. A câmera se afasta lentamente, até que uma janela é revelada: a mulher também está “protegida sob uma janela” – ou, sendo vigiada. Sem cortes, o plano volta a se fixar, enquanto os créditos percorrem a tela. Mesmo que exista uma natureza agonizante, o plano nos passa um tom de mistério e de quietude; porém, seremos expostos justamente ao contrário nos planos que se seguirão.
O motorista (protagonista da trama) é indicado rapidamente, de puro relance. Feito isso, um plano-detalhe é feito de seu relógio, criando um raccord de movimento – tão comum no cinema de Bava – ao extremo oposto, o relógio do líder da gangue de assaltantes. Em ambos os casos, há uma urgência no tempo, uma conotação de pressa, e nenhum tipo de serenidade ou quietude pode ser vislumbrada. A relação entre tempo e espaço é clara, os opostos irão colidir em algum momento. Pensemos por um segundo em outro exemplo: um raccord similar foi usado em Baron Blood, no aperto de mão entre professor e protagonista, que sintetiza o obstáculo que ele enfrentará; a troca de posições do plano no raccord denota também essa colisão. A urgência do tempo é claramente retratada na cena do assalto, com cortes extremamente rápidos (incomum em Bava): temos uma peculiar cena de ação.
A natureza humana – ou a falta dela – é outro ponto essencial para entender o cinema de Bava. Neste filme, em específico, temos certeza disso. Enquanto a fuga se mostra mais dificultosa do que os assaltantes imaginavam e pessoas inocentes são feitas como reféns, eis que surge o momento da primeira barreira rompida. Somos enganados, as expressões dos personagens são de pavor, mas o pavor será por eles mesmos conferido. Os inocentes que percorrerão o caminho a seguir, são inseridos ao mero acaso de uma espécie de “destino”, e não por um plano por eles arquitetado.
A primeira mulher sequestrada irá até o final do caminho, junto ao personagem que nos foi apresentado no início. Eis o momento da colisão: o sequestro dele e do carro. Nesse momento é que o caminho começa, esse percurso sinuoso e cheio de obstáculos que está por vir, que obviamente terá um fim, seria o fim ou uma tragédia?
O terror psicológico que emana dos personagens é potencializado conforme o caminho é percorrido. Quando o perigo aumenta – seja na visão dos assaltantes ou dos reféns –, mais terror é provocado e distribuído, entre os passageiros daquele enxuto carro. Em um dia de muito calor, com o carro lotado, os nervos estão acima dos limites. A escolha pelos closes, durante as cenas internas no carro, provoca ainda mais agonia.
O motorista se mostra esperto, além de persuasivo; e aos poucos consegue ditar determinadas ações, falando diretamente com o líder, que em teoria seria o cérebro da gangue (tendo em vista que os outros seriam como o corpo, só que um corpo sem cérebro). O pouco de sanidade que resta aos malfeitores aos poucos se esvai, junto ao caminho que segue e continua ardilosamente terrível.
A ruptura da sanidade também chega aos reféns: a primeira mulher sequestrada chega a seus limites. Em um momento oportuno, tenta fugir. Em uma sequência extremamente claustrofóbica, novamente com rápidos cortes, ela corre aos milharais: perceptível é sua luta, mas também será em vão visto que não chegará a lugar algum. Quando é raptada novamente, ela é obrigada a urinar na frente dos dois comparsas. Neste momento, fica clara que a insanidade já tomou conta dos dois personagens e que, provavelmente, ela não sairá ilesa desse percurso.
Sob a constância do percurso, o motorista continua tentando exercer certa influência sob o líder e, em certa medida, alcança mais alguns feitos, feitos estes que fazem com que uma briga interna seja iniciada. A tensão paira no ar, aliada aos conflitos internos, o intérmino do percurso, o clima abafado. É chegado o embate entre eles mesmos. Mais mortes estão por vir. Mais corpos serão reunidos.
Em outro obstáculo, eis que surge um posto – onde entrará mais um corpo sob seus caminhos. Corpo esse, que será desovado junto ao outro: plano geral, ligeiro plongée, o afastamento lento da câmera mostra a imensidão do local e a relação corpo/espaço, relação que tomou conta de todo o percurso e filme. A urgência do tempo e a pseudo-serenidade apontadas no início do filme se chocam aqui novamente, talvez como justificativa. Enquanto que as vítimas aumentam, os locais de desova se mostram sempre mais abertos, mais espaçosos, assim como os próprios planos. A reflexão final, mesmo que aliada a uma surpresa, sinaliza que os corpos demorarão a ser encontrados, o tempo correrá de forma inversa, ou seguirá seu fluxo natural.
25/01/22
Irene, a Teimosa, My Man Godfrey, 1936, Gregory La Cava
O filme no iutubi aqui
Crítica: Irene, A Teimosa (1936)
A Comédia ligeira brilhou soberana na década de 30 e 40 nos EUA. Desse delicioso legado guardamos na memória mais facilmente os nomes de George Cukor, Ernst Lubitsch, Hawks, Capra (que se valeu do gênero mais o aprofundou ao seu mundo), McCarey e Sturges. Wilder exploraria como diretor tal veio bem mais tarde na década de 50, mas o seu estilo é mais corrosivo (genial porém), tendo contribuído nessa época como roteirista de algumas pérolas (A Oitava Esposa do Barba Azul, Bola de Fogo, Ninotchka – o que por si só bastaria para eternizá-lo na História da Sétima Arte). Outros diretores simplesmente jazem esquecidos, apesar de possuírem obras que merecem atenção do cinéfilo atento. Casos de Leisen (que se valia de roteiros de Sturges) e La Cava (que era tinha experiência anterior com animações). Iremos colocar nossa atenção sobre uma de suas obras aqui.
O que mais me encanta nesse gênero é a originalidade de suas premissas: “Aqui duas irmãs desocupadas e mimadas participam de uma gincana onde devem levar um mendigo até um clube onde membros da sociedade privilegiada participam de jogos absurdos com o objetivo de preencherem o vazio existencial de suas vidas. Num lixão improvisado sobre uma ponte elas se deparam com Godfrey (William Powell) e tentam o convencer a ir com elas. A menos arrogante das irmãs consegue convencê-lo e ela fatura a gincana. Como forma de agradecimento (ela sempre perdia para a irmã) ela resolve contratá-lo como mordomo. O homem aceita e descobre que terá de conviver com uma família de excêntricos malucos que a custa do dinheiro que possuem, cometem de enormes extravagâncias, ignorando assim a realidade social que vigora no país naquela época. Godfrey terá a missão de retirá-los do estado de inconsciência e mergulhá-los na realidade, tendo ainda de garantir seu emprego para não retornar as ruas, de onde escapara.”
Precisamos, para aprecia-lo melhor, lembrarmo-nos do contexto em que foi produzido. Os EUA passavam pela maior crise de sua História. O desemprego e a fome campeavam pelo país. Capra se encaixara nessa realidade com suas obras da qual se exalava um otimismo político, social e econômico e ousava em obras onde se depreendiam acentos socialistas como Adorável Vagabundo e O Galante Mr Deeds. Da parte de La Cava poderíamos (pela sua formação anterior) uma obra mais subversiva e anárquica, já que trabalha aqui com um roteiro que se ancora no choque das classes sociais. No entanto ele encaminha a historia para um terreno mais cômodo, deixando de lado temas políticos oportunos, mas que poderiam soar muito subversivos.
Assim o filme apenas insinuará alguns temas e o roteiro tratará de colocar o mendigo/mordomo como alguém riquíssimo que optou por descer de sua torre de marfim para melhorar a realidade que o cercava. Essa revelação quando o filme já se adiantava, frustra um pouco o expectador moderno. Mas, no entanto torna crível o perfeito domínio do ambiente em que se ele enfiou, com uma diferença primordial: Ele mostra qual deve ser o comportamento dessa classe social. E por ser mais rico, acaba por ser o porta voz dessa classe: salva a família da bancarrota, as filhas se dão conta de como foram ridículas, sendo egoístas, imaturas e superficiais. E o próprio Godfrey expande esse ensinamento além. Sua própria família se dá conta de que é se investindo no trabalho que se reerguerá a nação, uma lição aos especuladores e políticos de todos os tempos.
Ainda que o discurso soe ultrapassado e datado, o filme é considerado como um dos ápices da comédia ligeira, graças as interpretações, aos diálogos saborosos e a precisão rítmica da mise em scène. La Cava com esses 3 elementos conseguia reger um concerto em elevada interpretação desde o inicio até o fim. As excentricidades da família e do protegido possuem uma ternura adocicada e desembocam em verdadeiros absurdos (pertinentes, mas absurdos).
O diretor com uma elegância hoje esquecida coloca os personagens em situações pouco comuns: a biblioteca vira uma estrebaria, os jantares são regados a declamações de um protegido de madame sem talento algum, um verdadeiro chupim (Carlo - Misha Auer, O professor Boris Kolenkhov de “Do Mundo Nada Se Leva – indicado ao Oscar).As interpretações de todo o elenco cativam: Gail Patrick cria uma Cornelia pretensiosa que não recua diante de nada; Carole Lombard, que tão bem sabia criar jovens caprichosas totalmente desconectadas da realidade, é uma comediante nata. Ela nos rouba deliciosos sorrir ao simular pesadamente um delíquio para punir o homem que nega seus avanços. Aliás foi o primeiro filme indicado em todas as categorias de atuação. Se eu fosse definir o estilo de La Cava diria que seria no tocante a temática social um Capra e pelos diálogos um Cukor (devido a acidez desses). Já a mise em scène e o timming dos diálogos é uma mistura de Lubitsch e McCarey. Precisava conhecer mais obras suas. Somente vi essa.
Agora se o restante for tão promissor quanto isso será muito bom. Lamentavelmente as cópias (DVD) que nos chegam são descuidadas. Uma pena já que a obra merecia um maior carinho. Talvez também melhor seria se tivéssemos adotado o título dado em Portugal: Doidos Milionários. Tem muito mais a ver que o usado no Brasil.
25/01/22
Vênus, Deusa do Amor, One Touch of Venus, 1948, William A. Seiter
O filme in vimeo
Sobre Ava Gardner (1922–1990) https://www.imdb.com/name/nm0001257/
A Deusa do Amor é uma comédia romântica que conta a história sobre o jovem vitrinista Eddie Hatch (Robert Walker) que beija uma estátua da deusa Vênus que está exposta em seu trabalho. O problema começa quando a estátua vem à vida sob a forma de de uma linda mulher (Ava Gardner). Agora, Eddie está realmente em apuros: ele terá que lidar com os ciúmes de sua namorada e tentar resistir aos encantos da estonteante e apaixonada Deusa Vênus. (Filmow)
26/01/22
O Golem, Der Golem, wie er in die Welt kam, 1920, Paul Wegener e Carl Boese
Art Department: Edgar G. Ulmer, set designer (uncredited)
O filme no iutubi aqui
Com origem em 1847 numa coletânea de contos judaicos, o Golem significa "tolo", uma criação feita a partir do barro e com a alma animada através processos mágicos. Também faz referência a "uma substância incompleta" que apresenta uma certa santidade, porém incapaz de falar. Esse filme foi feito em 1920, é a adaptação cinematográfica da narrativa clássica da história ambientada em Praga do século XVI.
O rabino Judá Loew ben Betzalel, tenta usar o processo de permuta de palavras, como fez Raba, mas levaria alguns anos, então resolveu-se compactuar de forma "salomônica" com um espírito da Goetia, que certamente em seguida, vem cobrar seus serviços. Assim o Golem de guardião do gueto contra os anti-semitas de torna-se um destruidor. O Golem, é considerado uma das obras-primas do expressionismo alemão, sendo referência para a criação de homunculus, Frankeinstein e desenhos da minha época como "A Coisa". Para quem aprecia leitura, o livro é de rápida leitura e possui várias versões.
O GOLEM, COMO VEIO AO MUNDO - 1920
Golem, o Monstro de Barro, Le golem, 1936, Julien Duvivier
Filmes (o de 1920 e o de 1936) inspirados por uma lenda na qual o Rabi Loew cria um autômato, Golem, que se revolta contra o imperador e também contra seu criador. A versão de 1920 é a melhor, com imponentes cenários construídos (não-expressionistas) e impressionante composição de Paul Wegener, estátua que anda, na qual deve ter-se inspirado mais tarde Frankenstein, e bela movimentação de multidão. O roteiro acentuava a revolta de Golem contra seu criador, enquanto o de Duvivier, 1936 (bem menos importante, embora não desprezível) tinha com palavra de ordem: “a revolta é a lei do escravo”. O filme terminava com uma impressionante destruição dos antissemitas. A primeira versão parece ter sido uma das primeiras realizações artísticas do cinema na Alemanha. (Georges Sadoul, Dicionário de filmes, p. 170, L&PM, 1993)
27/01/22
Anjo ou Demônio? Fallen Angel, 1945, Otto Preminger
O filme no iutubi aqui
Sobre Anne Revere
Anjo ou Demônio? Luiz Carlos Merten , 12 de março de 2010
Conta a lenda que Joseph L. Mankiewicz, querendo obter determinado efeito – uma expressão de enfado, ou irritação – de Linda Darnell em ‘Quem É o Infiel?’ (A Letter to Three Wives), mostrou-lhe a foto de Otto Preminger. Linda, realmente, começou detestando Preminger, quando fizeram ‘Fallen Angel’, Anjo ou Demônio?, em 1945, mas depois vieram ‘Noites de Verão’ e ‘Entre o Amor e o Pecado’ (Forever Amber) e a relação melhorou, embora não conste que o grande Otto tenha sido amante de Linda, como foi de outras estrelas sob sua direção, antecipando Roberto Rossellini e François Truffaut, que adoravam dormir – metaforicamente falando – com suas atrizes.
‘Fallen Angel’ está sendo lançado em DVD pela Cult Classics, no mesmo pacote que inclui ‘Os Vivos e os Mortos’, de John Huston. Pretendo falar mais de Preminger, depois. Agora, o assunto é especificamente ‘Fallen Angel’. Vienense de nascimento, Preminger foi ator e diretor, de teatro e cinema, na Áustria. Foi lá que começou a dirigir, no começo dos anos 1930. Nos EUA, o turning point de sua carreira foi em 1944, na Fox, quando foi designado para produzir ‘Laura’ e terminou demitindo o diretor Rouben Mamoulián, para assumir o comando do filme que virou marco do cinema noir.
Alguns elementos, senão vários, indicam que Preminger, ao encarar o desafio de ‘Fallen Angel’, talvez estivesse querendo reproduzir o êxito de ‘Laura’. O clima noir, o fotógrafo Joseph LaShelle, o músico David Raksin, o ator Dana Andrews… Apesar dessa proximidade os universos dos dois filmes são muito diferentes. Em ‘Laura’, o detetive Dana Andrews investiga o desaparecimento da personagem-título e, antes mesmo que o perceba, está apaixonado pela mulher que, no começo, é apenas um corpo num quadro. Em ‘Fallen Angel’, Dana Andrews de novo investiga, mas agora ele é suspeito do assassinato de uma garçonete.
‘Laura’ passa-se em ambientes cosmopolitas e sofisticados de Nova York e remete à tradição europeia, na qual o diretor, até por formação, se inscrevia. Não é por acaso que o personagem de Clifton Webb, Waldo, na cena da festa, recepciona seus convidados falando francês. Em ‘Fallen Angel’, o ambiente é mais pobre e, de certa forma, sórdido. Dana Andrews faz um sujeito quebrado, financeiramente, que chega a cidadezinha da Califórnia e a bancarrota econômica vira sinônimo de bancarrota moral. Numa entrevista nos anos 1970, Preminger não foi muito lisonjeiro com o filme. Admitiu não se lembrar muita coisa e disse que foi um dos trabalhos que aceitou por estar preso a contrato na Fox. Andrews se envolve com a garçonete Linda Darnell, mas, como ambos são duros, ele resolve dar um golpe – se envolvendo com a herdeira Alice Faye, mas há um crime e a história toda se complica.
Linda se sentia prejudicada por Preminger, que estaria privilegiando a personagem de Alice. E justamente a presença da estrela dos musicais, num raro papel dramático – e o seu último como estrela –, contamina (enfraquece?) a estrutura dramática de ‘Fallen Angel’. No limite, ninguém ficou contente com o filme. Alice, que havia recusado 16 roteiros, sucessivamente, disse que o todo poderoso Darryl Zanuck, querendo promover sua protegida Linda Darnell, fez alterações na montagem que a prejudicaram.
Linda achava que Preminger dava atenção demais a Alice e o diretor se queixava do Código Hays, que implicava com as cenas de violência e até com uma de Dana Andrews na cama com Alice Faye, que ele considerava crucial. Não é descabido pensar que foram os problemas de Preminger com a censura da indústria, em ‘Fallen Angel’, que fortaleceram nele a decisão de lutar por liberdade de expressão e, nos anos 1940 e 50, como produtor e diretor, ele fez guerra às restrições do Código, na tentativa de transformar o cinema de Hollywood numa forma de expressão mais adulta. Mas apesar da insatisfação do próprio autor, não será perda de tempo, para o espectador, (re)ver ‘Fallen Angel’.
Até onde me lembro, o trabalho de câmera é prodigioso, com movimentos fluidos que, na verdade, eram uma das marcas de Preminger. Ele pode não ter inventado o plano sequência, mas foi dos primeiros a basear sua mise-en-scène no movimento contínuo do plano.
28/01/22
Diário de um Jornalista Bêbado, The Rum Diary, 2011, Bruce Robinson
O filme no iutubi aqui
Review: The Rum Diary (2011), The Film Cynic
The source novel of The Rum Diary was first written by a young Hunter S. Thompson in the early 1960s, but went unpublished until 1998, when Thompson mania was reaching new heights as Johnny Depp ushered Fear and Loathing In Las Vegas to the big screen. Thirteen years after it was finally published, and six years after Thompson’s death, Depp does the same again with this Diary from the author’s early days, written before he rejected fiction to become the Doctor of Journalism so beloved of many a fan of finest American wit and peyote.
Like Terry Gilliam’s Fear and Loathing, Bruce Robinson’s adaptation has a choice: please the fans or reach beyond to the ‘fucking reptile zoo’ that is the cinema lobby. Gilliam kept it niche but, in adapting and directing this most reluctant of debut novels, Robinson opts for the latter; to judge from the confused and utterly reprehensible blather emanating from those pus piles of teenagers sitting in the row behind this critic at the screening, he may have made the wrong choice. Watching functioning alcoholic Kemp (your Thompson stand-in for the evening, played by Depp) try to write anything for an English-language rag in 1960s Puerto Rico is not the trip we’ve been promised. If the film is not bathed in sunshine reflected off the blue waters and Amber Heard’s ruby lips, it’s a grimy little cesspool inhabited by wimps and/or drunks with little concern beyond themselves (though personal hygiene isn’t a priority either).
When not sneering at incompetent editor Lotterman (Richard Jenkins and a horrible toupée) Kemp gets into hijinks accompanied by photographer Sala (a sweating and roly-poly Michael Rispoli) before being roped into a property scam by Sanderson (Aaron Eckhart in ‘smarmy bastard’ mode) and eyeing up Sanderson’s fiancée (Heard, hubba-hubba). All these plots have moments to seduce the eye and tickle the funny bone (Giovanni Ribisi, take a bow as a pickled cousin of Jack Sparrow), but all the jewel-encrusted turtles in the Caribbean can’t overcome episodic plotting that drops plotlines and picks up others on a whim.
Thompson appreciated a certain disorder, but this is insanity at its most inane. There are episodes (dropping acid, rescuing a car, running from local yokels), but there is no story. Laughs come only in perioic fits, whilst attempts at Thompson-esque melancholy feel shoehorned in; like rum followed by an absinthe chaser, these disparate elements simply will not mix.
If you want a definitive take on alcoholism from Robinson, Richard E. Grant did it best whilst demanding “cakes and fine wine!” Thompson has been better handled on celluloid (for best results, try Where The Buffalo Roam); The Rum Diary is just too unwieldy to survive the transition from page to screen. His leaping from styles of Mencken to FitzGerald to Hemingway and to his own inimitable style held the ramshackle plots together on the page; there’s no such luxury here, only a dissatisfied mess from people too blinded by Thompson’s brilliance to notice.
28/01/22
Titane, 2021, Julia Ducournau
Crítica | Titane (2021)
Uma existência baseada em instintos primitivos, por Luiz Santiago 4 de novembro de 2021
Expressões como “o corpo é um templo” e “o corpo é uma máquina” chamam a atenção para o funcionamento intricado e muitas vezes misterioso desse invólucro que nós vestimos. Na primeira expressão, fala-se do caráter quase místico de nossa existência, e num aspecto prático, chama para o fato de sermos ou sofrermos as consequência de tudo aquilo que ingerimos ou a que submetemos o nosso corpo. Na segunda, chama-se atenção para a precisão com que certas engrenagens são ativadas em situações bem diferentes: durante o sexo, durante a fuga em uma situação de perigo, durante o contato com alguém que se quer. Mas seja como templo ou como máquina, nossa razão e olhar para o corpo sempre encontrarão um ponto cego. A fonte de nossa energia psíquica, de onde brotam os instintos, os impulsos orgânicos e os desejos inconscientes. Em Titane, filme da diretora francesa Julia Ducournau, temos a história de uma personagem inteiramente ancorada nessa camada de pulsões da existência.
Na fotografia, a tônica é o neon. Após a excelente sequência de abertura, onde temos não apenas uma definição precisa e chocante da personalidade de Alexia (em sua fase adulta interpretada por Agathe Rousselle, num excelente trabalho de introspecção psicótica que dá lugar à fragilidade do afeto e da maternidade no fim do filme), mas o estabelecimento de uma relação da personagem com um carro, o filme ganha um ritmo e um encadeamento de eventos que chocam e enojam de maneira quase insuportável, tudo embebido naquela luz leitosa que, quanto mais aparece na tela, mais cria a sensação de espaços doentios e povoados por pessoas aparentemente normais que têm muita coisa a esconder. Se a diretora explorasse isso em seu filme, seria uma espécie de neolynchiana, mas ela não está preocupada com esse aspecto das relações sociais. Sua preocupação é a exploração dos corpos a partir de uma pessoa, a protagonista, que através da mais crua violência segue cavando o buraco de sua solidão e isolamento.
Alexia não tem perspectiva de vida. Fala pouco, age de maneira mecânica e dá vazão irrestrita aos seus prazeres. Pelas lentes de Ducournau, isso se torna um bailado de sangue e outros fluídos, quase sempre ligados ao prazer sexual. A erotização em Titane é daquela que abraça a maldição clichê do slasher: “transou, morreu“. E nessa mistura de Viúva Negra com fêmea de Louva-Deus, Alexia segue pela vida. O gozo e o sangue, em Titane, são magnéticos. Eles precisam estar juntos e, na primeira meia hora do filme, fica até difícil definir qual atitude da personagem gera uma dessas “consequências”, pois para ela chega a ser a mesma coisa. É nessa esfera niilista que o absurdo entra no filme e faz sua morada. O total vazio dessa mulher e a nula perspectiva para ela até como construção de personagem (ou estaríamos diante de um pornô-de-tortura-e-assassinato de 108 minutos de duração) é suprida por duas situações nada usuais: uma de caráter fantástico (o ‘sexo carroal‘) e outra de relações interpessoais (o psicanalítico ‘encontro com o pai‘).
Julia Ducournau dirige Agathe Rousselle como um motor de reações instintivas, e a atriz traz isso à tona com olhares penetrantes, às vezes com um ângulo capaz de dar medo por sua total força de intimidação e também sugerir sentimentos como desejo e ira. O espectador se acostuma com esse cotidiano de Alexia e até experimenta a estranheza de tons cômicos em alguma parte de seu modus operandi, algo que em certo momento me trouxe à mente o fio condutor de Von Trier em A Casa Que Jack Construiu. O que difere Alexia daquele personagem de Matt Dillon é justamente o propósito. Apesar de mover-se empurrado por um determinado instinto, Jack tinha algo em mente. Ele pretendia alguma coisa. Já Alexia é uma espécie de zumbi social, vivendo às cegas à procura de prazer, seja ele o do contato sexual com outra pessoa, seja ele o de matar outra pessoa. E o que ela quer fazer com isso, sobre isso? Absolutamente nada. Ela é a perfeita figura de um trauma que revestiu de titânio uma personalidade já bastante perturbada. E para personagens assim, o que normalmente encontramos — pensando em abordagens majoritárias — nos cinemas? A transformação ou a redenção através de alguma força externa, claro! E quando decide puxar essa trilha para o filme, a diretora assina as motivações que fazem a obra cair consideravelmente de qualidade.
E não falo aqui apenas de uma qualidade narrativa, com destaque para o foco na personagem, nas coisas que faz e no horror que espalha ao seu redor. Falo do ritmo que o filme ganha em sua segunda metade, um andamento mais simples em todos os núcleos. Para não dizer que é a única coisa que sobra, é verdade que temos a interessante e seca passagem entre os espaços cênicos, com cortes abruptos que normalmente indicam continuações metafóricas de uma situação para outra, mas em comparação à administração do tempo, antes, o filme se suaviza. Com mais tempo para respirar, vemos a força externa (na figura de Vincent Lindon) agir sobre Alexia, que fisicamente passa por transformações e pelo contato com um tipo de figura que nunca fez parte de sua vida, pois até mesmo no aspecto sexual a sua performance verdadeiramente marcante foi de uma perspectiva ‘nada usual‘, para dizer o mínimo.
Essa experiência lhe deixou uma marca que contribuirá para a mudança definitiva. Primeiro, no exterior, agora numa conjuntura que ela precisa esconder. Pela primeira vez na vida, seguindo o seu instinto de sobrevivência, Alexia sofrerá para ocultar o que ela é; um alguém que nem ela mesmo sabe, pois o resultado da invasão de seu corpo-templo está agora cobrando o preço. Depois, no interior, agora numa conjuntura que ela precisa exibir. Pela primeira vez na vida, seguindo o seu instinto de sobrevivência, Alexia se esforçará para exprimir o que pensa, vendo-se em situações em que precisa demonstrar preocupação, acariciar e cuidar de outro alguém. O “pai” Vincent é a força externa que alterará as engrenagens do corpo-máquina de Alexia, e os novos sentimentos a empurrarão para a transformação caótica que combina com tudo o que ela foi. Nota-se uma variação apenas superficial e verbal para o gênero (quase um anti A Pele Que Habito), a gestação de uma criatura indizível e um novo comportamento moral.
Ao final do filme, o Bebê de Rosemary tecnológico, não desejado e odiado, torna-se o símbolo da transformação de Alexia, o filho da violência, gestado na violência e, em seus momentos finais, alimentado por reações bem diferentes das quais estava acostumado. Sua vinda ao mundo é o traço moral da diretora para o roteiro (clichê moralista esperado mas, convenhamos, tocante), concluindo a jornada de transformação da protagonista.
O Ser gerado pela estranheza e violência de dois corpos traz a paz para a sua mãe e cumpre — sob uma perspectiva psicanalítica doentia e preocupante — o papel de atender ao desejo de um homem que há anos procurava pelo seu filho. Os encontros e despedidas, em Titane, são meios temporários de resolução de problemas porque os indivíduos dessa realidade não estão preocupados em verdadeiramente ter aquilo que sempre desejaram.
Eles se contentam em fingir que alguma coisa posta à sua frente irá preencher o vazio e suprir suas necessidades. O problema disso é que, assim como todo objeto de desejo conquistado, os fingidos também acabam, partem ou frustram a nesga de felicidade alcançada. E o que sobra de tudo isso inicia um novo ciclo de pulsões marcado por traumas, violência e mais desejos.
"Titane", o filme-demência com amor no coração
29/01/22
A Vida Íntima de Pippa Lee, The Private Lives of Pippa Lee, 2009, Rebecca Miller
O filme no iutubi aqui
Pippa Lee (Robin Wright) é mãe de dois filhos e dedica sua vida ao marido, Herb (Alan Arkin), trinta anos mais velho do que ela. Para que Herb pare de trabalhar e cuide mais de sua saúde, eles se mudam para um bairro afastado. Lá ela conhece Chris Nadeau (Keanu Reeves), que faz com que entre numa jornada de autodescoberta. Pippa passa então a recordar os momentos difíceis de sua vida, entre eles a difícil convivência com a mãe, viciada em anfetaminas, e o período em que viveu com uma tia lésbica. (Adorocinema)
29/01/22
O Grito da Selva, The Call of the Wild, 1935, William A. Wellman
O filme no iutubi aqui
Jack Thornton (Clarke Gable) está tentando ganhar dinheiro suficiente para conseguir ir para as minas de ouro do Alasca, apostando em jogos. Sua sorte muda quando ele compra Buck, um cachorro que é parte lobo, para puxar o seu trenó. Com um companheiro que tem as coordenadas, eles partem nessa aventura.
30/01/22
Dr. Mabuse parte 1 o Jogador, Dr. Mabuse, der Spieler, 1922, Fritz Lang
O filme no iutubi aqui
Dr. Mabuse, parte 2 - O inferno do Crime (1922), 1922, Fritz Lang
O filme no iutubi aqui
Crítica | Dr. Mabuse, O Jogador (1922), por Luiz Santiago 11 de dezembro de 2020
Dr. Mabuse é um desafio à primeira vista. Filme silencioso com quase 5h de duração * e dividido em duas partes, a primeira, O Jogador e a segunda, O Inferno do Crime, a obra nos faz acompanhar a história central sob duas perspectivas, uma mais filosófica e psicológica (a primeira parte) e outra mais sociológica e ligada ao ‘entretenimento expressionista’ (a segunda parte).
Escrito por Fritz Lang e sua esposa Thea von Harbou, o roteiro de Dr. Mabuse foi baseado na obra de Norbert Jacques, e teve uma meta dramática simples: apresentar a história do doutor do título, um psicanalista, apostador, manipulador criminoso e hipnotizador que usava de suas habilidades para enganar outros apostadores, controlar ações na Bolsa de Valores, induzir seus inimigos ao suicídio ou mandar matá-los. Homem de negócios, cidadão comum, viciado em jogos de azar ou doente mental, esse “homem das mil faces” é ao mesmo tempo uma representação de todos os controladores sociais e vítima patética de seus próprios jogos.
Para nos mostrar a saga de Mabuse, Fritz Lang investiu em dois módulos estético-formais no decorrer do filme. O primeiro, em O Jogador, é ágil e composto por motivos dramáticos ligados à filosofia, à crítica social e a uma série de temas alegóricos e metafóricos, um pouco como em Metropolis, M – O Vampiro de Dusseldorf e O Testamento do Dr. Mabuse, isso só para ficar na primeira fase alemã da carreira do diretor.
O segundo, em O Inferno do Crime, é propositalmente arrastado e composto basicamente pelo “cerco e consequências” de ações derivadas da primeira parte. Neste bloco, o diretor aposta no espetáculo cinematográfico da investigação, do suspense, dos filmes de gângster e até do western, se considerarmos a atmosfera externa da excelente sequência do tiroteio.
O jogo de gato e rato visto em O Inferno do Crime acaba por dar um caminho distinto àquele que o diretor apresentara no bloco anterior, algo que não poderia ser diferente, mas que acaba por estabelecer uma diferença de qualidade entre ambos. Se num primeiro momento temos apresentação rápida de conflitos, indicação de problemas, evocações psicológicas e sugestões das mais diversas, no segundo, ficamos mais à superfície, quase ‘curtindo’ a investigação por si só e observando a derrocada de um manipulador selvagem como Mabuse.
Esse tom de brincadeira com gêneros e com a própria trama é verbalizado pelo diretor em um diálogo do filme, onde ele faz piada interna com o movimento que surgira no cinema alemão após a I Guerra e do qual ele próprio era um membro; diálogo, aliás, que dependendo de como for lido, terá significados diferentes tanto dentro da história de Dr. Mabuse quando no contexto da Alemanha do início dos anos 1920:
- Qual sua posição em relação ao Expressionismo, Doutor?
- O Expressionismo é uma mera brincadeira… mas por que não? Tudo hoje é uma brincadeira…!
Fritz Lang dava o pontapé inicial em sua recorrente crítica ao uso abusivo do poder, à escravidão ou servidão (física, moral e psicológica) de pessoas, ao aproveitamento das fraquezas do outro para proveito próprio e ao crime como cédula organizada e sempre um passo à frente de um quase incompetente setor policial ou investigativo. Fruto de uma República de Weimar entregue a praticamente todos os problemas reais que aparecem no roteiro, Dr. Mabuse é uma visão densa e questionadora sobre o “comando dos invisíveis”, a sempre presente desculpa para que todos se submetam a determinada situação porque “eles” (os invisíveis de muitas faces, que são todos mas não são ninguém ao mesmo tempo) não estão disponíveis, não se interessam pelo fato ou, declaradamente, não irão fazer nada a respeito.
Utilizando cenários pontualmente expressionistas, montagem ágil, simbólica e dialética (especialmente na primeira parte), guiando um elenco afinadíssimo e com um enredo de término épico e anticlimático ao mesmo tempo, Fritz Lang faz em Dr. Mabuse o seu primeiro grandioso ‘ensaio de uma época’, um suspense expressionista de caráter político que não tinha medo nenhum de denunciar o que via, além de jogar, como seu protagonista, com as cartas oferecidas pelo tempo. O resultado é o que vemos hoje: um filme cuja mensagem, por mais cifrada que seja pela estética e pela forma, consegue se fazer escandalosamente atual. O jogo desonesto de Dr. Mabuse parece nunca ter fim.
* Existem várias versões para este filme. A que eu tive oportunidade de assistir foi realizada pela Murnau Foundation Restoration no ano de 2010 (excelente trabalho, por sinal!) e tem a seguinte divisão: 155 minutos para a primeira parte (O Jogador) e 116 minutos para a segunda parte (O Inferno do Crime), totalizando 271 minutos.
Fritz Lang entrevistado por William Friedkin en 1975 (subtitulado al español)
Sobre Thea von Harbou (1888–1954) roteirista de Dr. Mabuse e na época esposa de Lang.
31/01/22
Ao Cair da Noite, Moonrise, 1948, Frank Borzage
O filme no iutube aqui
Sobre Gail Russell (1924–1961)
AO CAIR DA NOITE (Moonrise, 1948), Cinemateque
Durante toda a sua vida, Danny Hawkins (Dane Clark) foi insultado e maltratado pela maioria das pessoas ao seu redor, suportando inúmeras surras e outras humilhações quando menino porque seu pai era um assassino que morreu na forca. Ele acha que não é muito melhor quando adulto, morando com sua tia na pequena cidade de Woodville, na Virgínia - especialmente quando está disputando as atenções da jovem professora Gilly Johnson (Gail Russell) com seu algoz de infância Jerry Sykes (Lloyd Bridges), cuja intimidação e arrogância são agravadas (e mais irritantes) pelo fato de que ele é filho do banqueiro da cidade (e seu homem mais rico). Sykes pega uma briga com Danny e perde pela primeira vez, mas ele morre no processo.
Sabendo o que a cidade pensa dele por causa de seu pai, Danny tenta esconder o corpo. Mas, apesar de toda a sua amargura sobre a forma como foi tratado, ele não pode realmente escapar dos sentimentos de culpa pelo que fez - nem pode escapar do medo do que as pessoas provavelmente vão pensar. Por um tempo, seu novo romance com Gilly o distrai, mas ele não consegue tirar isso da cabeça por muito tempo, especialmente quando é forçado a se juntar a seu bom amigo Mose (Rex Ingram) em uma caça ao guaxinim que os leva direto para o lago onde o corpo está escondido.
Logo o xerife (Allyn Joslyn) está investigando, e ele não pode deixar de conversar com o único homem na cidade cujo julgamento ele respeita quase tanto quanto o seu próprio - Danny. E quando o amigo surdo-mudo de Danny, Billy (Harry Morgan), sem saber, descobre uma peça-chave de evidência, Danny é empurrado quase ao ponto de ruptura. Ele é levado por seus próprios instintos a fugir e convidar quase certa captura ou morte, mas Gilly e o xerife vêem isso como uma chance para Danny não apenas se livrar do tormento pelo que ele fez, mas do passado que o assombra e arruinou sua vida - se eles pudessem alcançá-lo e fazê-lo entender.
01/02/22
Jack, o Estripador, Jack the Ripper, 1959, Robert S. Baker e Monty Berman
O filme no iutube aqui
Um assassino serial está matando mulheres no distrito de Whitechapel em Londres. Um policial americano chega a Londres para ajudar a Scotland Yard a resolver o caso.
02/02/22
O Beco do Pesadelo, Nightmare Alley, 2021, Guillermo del Toro
'O Beco do Pesadelo' tem elenco rico e Del Toro de volta à sua boa forma. Filme do cineasta mexicano é estrelado por Bradley Cooper e Cate Blanchett, mas esta não está à altura de seu talento
Sérgio Alpendre, FSP, 26/01/2022
Se houvesse um único valor em "O Beco do Pesadelo", novo filme de Guillermo del Toro, seria o de captar o mal-estar específico dos anos 2020, causado por uma série de fatores —governos de extrema direita, aumento do desemprego e, consequentemente, o arrivismo, a pandemia e seu reflexo, o negacionismo, clima em colapso, entre outros problemas.
Não é uma exclusividade desta versão. O próprio livro no qual o filme se baseia, escrito por William Lindsay Gresham e publicado em 1946, foi amplamente classificado como um romance niilista e, assim como sua primeira adaptação cinematográfica, "O Beco das Almas Perdidas", lançada em 1947 e dirigida por Edmund Goulding, representava os temores da época.
Filmado no auge do ciclo noir dos anos 1940 e protagonizado por um sublime Tyrone Power, o filme de 1947 teve um final postiço que apresenta uma saída ao personagem, acrescentado porque o produtor, Darryl Zanuck, não queria ter um desfecho tão negativo e sem esperança em um filme do estúdio —no caso, a 20th Century Fox.
Nestes tempos distópicos, a Disney, império do entretenimento que comprou a Fox e é normalmente associada a uma infantilização do cinema, propõe esta adaptação mais respeitosa ao livro de Gresham, preservando o niilismo da história original e incitando Bradley Cooper a um de seus desempenhos mais soturnos.
Cooper é Stanton Carlisle, um homem ambicioso e cheio de culpas que vai parar num parque de diversão. Ao ver o terrível homem selvagem arrancar a cabeça de uma galinha viva, sai sem pagar, atraindo a atenção do gerente do local, um homem curioso vivido por Willem Dafoe. Ele passa então a servir como um trabalhador para toda obra, de carregador a domador do selvagem.
Ele se envolve, no processo, com uma leitora de tarô chamada Zeena, interpretada por Toni Collette, e com seu marido alcoólatra Pete, vivido por David Strathairn. Mas se envolve também com a única personagem inocente de toda a trama, a jovem Molly, que ganha uma caracterização bem digna de Rooney Mara. Esta, com 36 anos, poderia parecer velha para o papel.
Depois de descobrir um código que permite a adivinhação de perguntas feitas pela plateia, e cheio de culpa pela morte —meio acidental, meio provocada— de Pete, Stanton parte com Molly, a quem vinha seduzindo, para Chicago, onde vai tentar ganhar dinheiro com os truques aprendidos no parque. Mas descobre um outro filão —se fingir de médium para dar conforto a pessoas da alta sociedade. E então conhece a psicanalista Lilith, personagem que tem o corpo e a voz, mas não todo o talento, convenhamos, de Cate Blanchett. Esse encontro será sua perdição.
Além do elenco riquíssimo, que ainda conta com Richard Jenkins, Mary Steenburgen e Ron Perlman, podemos destacar a ambientação sombria que Del Toro alcança com algum mérito. O filme noir já teve diversas manifestações modernas e melhores nos últimos 50 anos. Só na chamada nova Hollywood podemos apontar diversas releituras do subgênero. Mas nenhuma foi tão forte em radiografar o mal-estar do mundo e a falência moral de uma sociedade como "O Beco do Pesadelo".
O filme nos envolve num território sujo, de ganância e corrupção de valores, em que até a psicanálise, num momento, o imediato pós-guerra da narrativa, em que tal ciência vivia seu auge, podia ser destruída pela ambição.
Cate Blanchett, nesse sentido, representa uma limitação. Sua personagem, Lilith, é fundamental para a danação do protagonista. Mas a atriz não tem uma interpretação à altura de seu talento e do que a personagem pede. No filme de 1947, Helen Walker brilhava, tanto na representação do lado dama de Lilith, quanto do lado vigarista. Por causa dela, o filme funcionava muito bem na parte final.
O beco que Del Toro nos propõe parece menos sedutor, e por isso o pesadelo de Stan Carlisle parece tão postiço quanto o final inventado por Zanuck para a versão antiga. Ainda assim, pela atmosfera construída com algum esmero e muitas sombras, é um retorno à boa forma.
02/02/22
O Beco das Almas Perdidas, Nightmare Alley, 1947, Edmund Goulding
O filme no iutubi aqui
Jules Furthman (screen play), William Lindsay Gresham, Nightmare Alley (1946), Beco do Pesadelo; London : Raven Books, 2020
Sobre Jules Furthman (1888–1966)
Crítica Eduardo Kaneco , 5/01/2022
O film noir O Beco das Almas Perdidas (Nightmare Alley, 1947) acompanha os altos e baixos da vida de Stanton Carlisle (Tyrone Power), um assistente de circo que se torna um famoso adivinhador.
Três mulheres
Nessa movimentada trajetória de Stanton, que o filme relata sem pressa, três mulheres possuem influência vital. Primeiro, Zeena (Joan Blondell), a adivinha do circo que o acolhe e lhe ensina o truque dos códigos que ela usava nas apresentações com o marido Pete (Ian Keith). Como este se tornou um alcoólatra, o casal parou de performar esse número, apesar de seu sucesso. Stanton flerta com Zeena, mas ela é suficientemente experiente para não se iludir com as intenções desse ambicioso rapaz.
Após causar a morte de Pete por acidente, Stanton precisa sair do circo, casado às forças com Molly (Coleen Gray), uma jovem artista da trupe.
A mudança lhes faz bem, pois alcançam enorme sucesso com apresentações de adivinhação. A princípio, lotam casas noturnas, mas, logo, Stanton vê a oportunidade de ganhar mais dinheiro fazendo-se passar por médium para idosos ricos. Para isso, conta com a parceria da psicanalista Lilith (Helen Walker), que lhe revela os segredos de seus pacientes.
Sem cair na caricatura, cada uma dessas personagens representa um tipo de mulher. Zeena é como uma mãezona, que sempre quer o melhor para Stanton, mesmo que este não mereça. Já Molly faz a jovem ingênua profundamente apaixonada por Stanton. Inevitavelmente, sua pureza se torna um empecilho para os golpes do marido. Por fim, Lilith encarna a femme fatale do film noir, numa de suas versões mais dissimuladas e frias.
Ambição cega
Apesar de as mulheres servirem de ponte para que Stanton siga sua ambição desmesurada, ele alcançaria um destino trágico mesmo sem elas. Desde o início da história, ele usa seu dom de manipulação para pavimentar esse caminho. E, a cada conquista, mais longe ele deseja chegar. Até que ele vê tudo ruir por conta da má sorte prevista por Zeena nas cartas, pela moralidade natural de Molly, e pela derrota diante de uma antagonista mais habilidosa (Lilith).
O roteiro de Jules Furthman encerra o destino do protagonista num círculo que une o seu desfecho ao seu início. Na abertura, Stanton se impressiona com uma das atrações, o geek, o homem selvagem que enlouqueceu e come animais vivos. E, pergunta ao dono do circo: “Como alguém pode chegar a um ponto tão baixo?”. Os gritos do selvagem ecoam na mente de Stanton em momentos chaves do filme, simbolizando seu tormento pela culpa que sente pela morte de Pete.
Enfim, esse sentimento revela que, no fundo, Stanton é uma pessoa boa, por isso se penaliza por esse evento que foi, afinal, acidental. Além disso, a desilusão de chegar tão alto e cair vertiginosamente, traído por confiar numa pessoa que é seu duplo, o leva a um alcoolismo pior do que aquele de Pete. Stanton perde a lucidez, e se torna, ele mesmo, um novo geek de circo. Conhecendo a porção boa do protagonista, o espectador sente pena dele por sua degradação.
O filme poderia parar aí, mas fecha com uma forçada redenção ao lado de Molly. Provavelmente, uma exigência do estúdio, a 20th Century Fox.
Roteiro e direção
Mesmo assim, O Beco das Almas Perdidas permanece contundente. O roteiro se baseia no livro de William Lindsay Gresham, publicado em 1946. Ou seja, sob o pessimismo resultante da Segunda Guerra Mundial, que coloca em questionamento o caráter das pessoas. Aliás, o livro ganhou nova adaptação por Guillermo Del Toro, no ainda inédito O Beco do Pesadelo (Nightmare Alley, 2021).
Quando dirigiu esse filme, Edmund Goulding já apresentava uma longa carreira como diretor de cinema, iniciada em 1925. Realizara filmes de sucesso, como Anna Karenina (Love, 1927) e Grande Hotel (Grand Hotel, 1932), ambos protagonizados por Greta Garbo. Desta vez, volta a oferecer um protagonista de grande profundidade para Tyrone Power, após dirigí-lo em O Fio da Navalha (The Razor’s Edge, 1946). O ator tira o máximo proveito do papel e da estilização visual repleta de sombras nesse filme essencialmente noturno que reproduz a amargura de sua história. Dessa forma, com preponderante pessimismo, O Beco das Almas Perdidas não retrata o sonho americano, mas o pesadelo.
03/02/22
A Dama Desconhecida, Lady on a Train, 1945, Charles David
O filme no iutube aqui
Enquanto espera em uma estação de trem, moça testemunha um assassinato de um prédio próximo. Quando ela traz a polícia à cena do crime, eles acham que ela é louca, já que não há corpo. Ela, então, pede a um escritor de mistério popular para ajudar como seu detetive.
03/02/22
Nem um Passo em Falso, No Sudden Move, 2021, Steven Soderbergh
Em 1969, o Departamento de Justiça abriu um processo de defesa da concorrência, contra a GM, Ford, Chrysler e a American Motors por durante 15 anos terem ocultado a tecnologia de redução de poluição em carros. As construtoras fizeram um acordo com o governo, e, em 1975, o catalisador tornou-se peça obrigatória em todos os automóveis fabricados nos EUA. Nenhuma multa foi aplicada.
Crítica | Nem um Passo em Falso, por Kevin Rick 2 de julho de 2021
Steven Soderbergh é um diretor extremamente eclético. Indo de comédias criminosas como a trilogia de Ocean’s Eleven, dramas psicológicos como Terapia de Risco, um horror fatal em Contágio, até algo como Magic Mike, o cineasta americano sempre prezou pelo experimentalismo entre gêneros, técnicas e ambientações. Apesar da louvável abordagem artística de Soderbergh, sempre me encontrei tendo experiências medianas na maioria de seus filmes, consequência, acredito eu, dele soar genérico ou superficial no seu estilo plural. Dito isso, o diretor sempre parece encontrar seus melhores trabalhos com tramas sobre o crime. E o agradabilíssimo Nem um Passo em Falso, recente lançamento da HBO Max, confirma a mão criativa experiente do diretor em uma navegação pela cadeia criminosa do submundo até a burguesia, mas contendo algumas ressalvas de superficialidades que acompanham o cineasta.
Retornando à Detroit nos anos 50, o filme é tanto uma forma de homenagem à thrillers e obras noir características da época, como também uma abordagem modernizada de comentários sociais, hierarquias do crime e ganância capitalista para o período misógino, de tensão racial e cheio de gangues adversárias. A narrativa acompanha dois vigaristas, Ronald (Benicio Del Toro, apaticamente divertidíssimo) e Curt (Don Cheadle, um comandante de atenção), enquanto eles tentam assumir o controle de um roubo/sequestro misterioso que foram contratados para participar. A partir daí, a história começa a se ramificar com vários personagens e reviravoltas em torno de um documento especial, mantendo um tom de pastiche astuto e agradável sobre bandidos confusos à deriva em um mundo projetado para prejudicá-los.
Assumindo uma deliciosa história de underdogs desafiando a ordem natural do crime, Soderbergh estabelece um MacGuffin – com posterior importância histórica -, isto é, uma força motriz que delineia as escolhas dos personagens, mas sem muita importância narrativa, como estopim da sua proposta de conspiração, intriga e twists. Curiosamente, apesar de ser uma obra cheia de reviravoltas, o filme não preza por impacto, e sim atmosfera. E as próprias reviravoltas soam muito mais como subterfúgios bem colocados para escalonar o mistério do que causar algum tipo de choque.
Baseando-se em uma experiência inteiramente atmosférica, como de praxe em filmes noir, o exuberante design de produção de época captura uma Detroit repleta de disparidade econômica, destacando tanto as periferias decadentes da cidade quanto a elegância de hotéis luxuosos, e, claro, os figurinos mafiosos e os veículos imponentes auxiliam na bela imersão histórica da obra. E Soderbergh utiliza lentes de câmera mais antigas para dar à imagem uma sensação vintage. Entretanto, o estilo visual também pode ser distanciador, com o diretor ocasionalmente sacrificando as nuances dos personagens para privilegiar sua ambientação.
Narrativamente, o filme também preza pela construção de atmosfera em torno do desenrolar do mistério em um tabuleiro de núcleos, interconexões e diferentes microcosmos sociais. Estranhamente – ou certamente -, durante a fita, nunca verdadeiramente me importei com o documento, o que ele era, suas repercussões, etc, mas sim com a charmosa jornada da dupla protagonista. Soderbergh te convida para uma passeio em diferentes organismos e níveis do crime, do submundo até o empresarial, de um corpulento e intimidador Brendan Fraser até o grande chefão da obra, em uma das mais divertidas participações especiais recentes do Cinema, enquanto somos fisgados pelo carisma de dois vigaristas tentando superar o mundo do crime.
A direção de Soderbergh começa a se perder no ato final, onde vejo os twists mais escancarados para provocar um clímax que não existe, e o roteiro também não parece saber fechar o arco da dupla, indicando alguns caminhos meios desconexos e inorgânicos para separá-los, especialmente mal feito no desfecho do personagem de Del Toro. Mas ainda assim, utilizando-se de contornos de humor negro, um bom mistério criminoso, um toque de modernidade – especialmente nas personagens femininas – e uma narrativa de ascendência que se confirma como derrotista, em um ótimo cinismo, aliás, fechando bem a crítica social/capitalista de hierarquias, Nem um Passo em Falso é uma estilosa viagem noir de traições, protagonistas imoralmente cativantes e um elenco de apoio luxuoso que dão o tom da experiência instigante. Nada é realmente inovador ou espetacular, e o filme até soa superficial no ato final, mas Soderbergh entrega uma sórdida diversão criminal.
3/2/22
Zona Proibida, Rope of Sand, 1949, William Dieterle
O filme no iutube aqui
Dois anos atrás, o guia de caça Mike Davis (Burt Lancaster) estava com um cliente que se rebelou nas terras de uma empresa de diamante e encontra um rico carregamento de pedras. Paul Vogel (Paul Henreid), sádico comandante de segurança da empresa, espancou Mike quase até a morte, mas Mike não revela a localização das pedras. Agora Mike está de volta em Diamantstad, no deserto sulafricano, e o gerente Martingale (Claude Rains) tem uma idéia melhor: ele contrata a deliciosa aventureira Suzanne (Corinne Calvet) para desentocar segredo de Mike. Mas ela logo descobre que está brincando com fogo.
4/02/22
Os Assassinatos da Rua Morgue, Murders in the Rue Morgue, 1932, Robert Florey
O filme no iutubi aqui
Crítica | Os Assassinatos da Rua Morgue (1932), por Luiz Santiago 24 de março de 2019
Inicialmente com 80 minutos e supostamente com um tratamento bastante fiel aos Assassinatos na Rua Morgue original, esta adaptação de 1932 foi picotada pela Universal, que ordenou o corte de 20 minutos de duração do filme, notadamente as partes que tratavam dos detalhes (e contextos) terríveis das mortes narradas por Edgar Allan Poe em seu conto de 1841, o marco inicial da literatura policial como gênero.
Se a gente considerar que 5 pessoas mexeram no roteiro em fases diferentes da produção, até que esta versão dirigida por Robert Florey não está assim tão abaixo do que deveria ser uma boa adaptação de Os Assassinatos na Rua Morgue. Aliás, estamos sim falando de um bom filme, embora ele tenha grandes problemas nas escolhas para a finalização — falarei mais disso adiante — e na montagem, especialmente para estabelecer de maneira lógica a relação entre o Dr. Mirakle, personagem de Bela Lugosi, com Camille L’Espanaye (Sidney Fox) e seu namorado… Dupin (!), interpretado por Leon Ames. E não é preciso dizer muito para imaginar que os problemas de finalização da obra derivam desse par romântico nada indicado para um filme como este.
Há um clima bastante pesado desde o início da película e a linha do texto que une a futura assassinada (no original) com o seu assassino é brilhantemente exposta aqui. A ação se passa em Paris, em 1845, onde o maluco cientista Dr. Mirakle sequestra jovens das ruas e injeta sangue de gorila nelas, num experimento para arranjar uma parceira para seu símio Erik (Charles Gemora, com o traje de gorila), um espécime extremamente inteligente. À primeira vista, parece mais um daqueles terrores B ou exagerados da Universal, mas não é. Aqui, estamos diante de um filme de Hollywood ambientado em Paris, dirigido por um francês, fotografado por um checo e com forte inspiração visual no Expressionismo Alemão, além de um elenco formado por atores de diversas nacionalidades.
E com efeito, o visual dessa adaptação é o seu ponto mais forte. O formato opressivo e tortuoso das casas e ruas de Paris, a fotografia contrastante (num expressionismo refigurado e um pouco mais difuso) deixam tudo ainda melhor. Lugosi, no papel principal, assume muito bem a função de colocar medo nos personagens à sua volta e de agir como um cientista cheio de ideias moralmente questionáveis, mas não faz mais nada além disso. Seus diálogos são poucos e ele se vale mais aqui de expressões e risadas do que de interpretação literal para o seu Dr. Mirakle. Leon Ames está bastante elegante, com um bigodinho que dá o tom final de seu Dupin, mas eu gostaria que ele tivesse ficado calado a maior parte do tempo. Nas cenas em que precisa demonstrar emoção pelo que aconteceu dentro da casa, o ator não convence nem o mas benevolente dos espectadores, assim como ocorrera nas cenas de terríveis e melosas declarações de amor no início da fita — a pior coisa da obra — e o retorno dessa maldição romântica no final, logo numa adaptação onde esse tipo de nuance não é bem-vinda, pelo menos não do jeito que temos aqui.
Claro que a exploração do lado romântico foi uma decisão forçada pela Universal e a isso, o leitor pode somar o corte impiedoso das cenas de violência e de seus contextos, e então temos um romance parisiense com a interferência de um animal inteligente e apaixonado pela mocinha. É o tipo de conceito que começa com uma excelente abordagem e termina de maneira risível, o que é uma pena, porque o que restou aqui da concepção original de Florey já foi o bastante para fazer com que o filme terminasse acima da média, valendo bastante a sessão, mas ainda irritando o espectador diante dessas tantas estranhas resoluções.
Os Assassinatos da Rua Morgue (Murders in the Rue Morgue) — EUA, 1932
Direção: Robert Florey, Roetiro: Robert Florey, Tom Reed, Dale Van Every, John Huston, Ethel M. Kelly (baseado na obra de Edgar Allan Poe)
Elenco: Sidney Fox, Bela Lugosi, Leon Ames, Bert Roach, Betty Ross Clarke, Brandon Hurst, D’Arcy Corrigan, Noble Johnson, Arlene Francis, Ted Billings, Herman Bing
Duração: 61 min.
Edgar Allan Poe, Os crimes da rua Morgue e outras histórias livro
5/2/22
A Casa Sinistra, The Old Dark House, 1932, James Whale
O filme no iutube aqui
Sobre James Whale (1889–1957)
A CASA SINISTRA
O cineasta britânico James Whale se mudou para os Estados Unidos no início dos anos 1930, quando o produtor Carl Laemmle Jr., da Universal Studios, lhe ofereceu um contrato de cinco anos. Nesse período ele dirigiu quatro obras que marcaram o gênero do terror: Frankenstein, O Homem Invisível, A Noiva de Frankenstein e este A Casa Sinistra. Baseado no romance de J.B. Priestly, o roteiro foi adaptado por Benn W. Levy e nos apresentado a família Femm. Uma noite chuvosa faz com o casal Waverton (Raymond Massey e Gloria Stuart), ao lado do amigo Penderel (Melvyn Douglas), peça abrigo aos moradores de uma velha mansão à beira da estrada. Pouco depois, outro casal (Charles Laughton e Lilian Bond) chega também. Os irmãos Horace (Ernest Thesiger) e Rebecca (Eva Moore) os recebem. Desde o início fica claro que algo estranho acontece naquela casa. A começar por Morgan (Boris Karloff), o mordono mudo. A Casa Sinistra é um filme de mansão mal assombrada que não apela para soluções fáceis e previsíveis. Whale faz uso do humor para atenuar algumas passagens e imprime um clima gótico expressionista bastante adequado para nos cativar e envolver por inteiro. Coisa de quem conhece bem o ofício. Cinemarden
5/2/22
A Aventura, L'avventura, 1960, Michelangelo Antonioni
A Noite, La notte, 1961, Michelangelo Antonioni
O Eclipse, L'eclisse, 1962, Michelangelo Antonioni
A trilogia da incomunicabilidade de Antonioni, Luiz Zanin Oricchio , 06 de agosto de 2012
Qualquer cinéfilo digno deste nome conhece de cor a chamada Trilogia da Incomunicabilidade de Michelangelo Antonioni. A Aventura (1960), A Noite (1961), O Eclipse (1962). Vimos esses filmes em diversas ocasiões, às vezes em cópias lamentáveis, e aprendemos a admirá-los. Mais que isso. Aprendemos a amá-los. Depois os revimos em VHS e, mais tarde, nos DVDs que foram saindo no mercado. De raros, tornaram-se familiares. Estão agora agrupados numa caixa caprichada da Versátil, com cópias de excelente qualidade e extras. Vêm com esse nome geral, de que o próprio Antonioni não gostava muito – Trilogia da Incomunicabilidade.
Essa história ele explica numa entrevista que não consta dos extras. Um tanto mal humorado, diz que não tem qualquer apreço pela falta de comunicação. Pelo contrário. Seus personagens se esforçam por entrar em contato uns com os outros. Apenas não conseguem, o que é outra história. Mas existe um esforço de ligação, um traço de união que, é verdade, nunca se completa. Todos estão irremediavelmente sós. Em especial quando em casais, mas não apenas.
A Aventura é o primeiro desses filmes. Anna (Lea Massari) é a garota entediada que viaja com o namorado e um grupo de amigos para uma ilha vulcânica na Sicília e…simplesmente some. Talvez, como argumento, seja o mais surpreendente dos três. Todo o que acontece, e o que não acontece também, se refere, de maneira direta a esse desaparecimento que não se explica. O filme é extraordinário. E inquietante.
E mais extraordinário ainda talvez seja o depoimento que a atriz Monica Vitti dá numa entrevista que, esta sim, está entre os extras (aliás, o DVD de A Aventura é duplo; um só para o filme, o outro reservado aos extras). Monica conta que a situação foi tirada de algo que aconteceu de fato entre ela e Antonioni, na época casados. Num passeio a uma ilha, brigaram por algum motivo banal, ela embirrou e resolveu sumir do mapa. Ficou desaparecida por umas duas horas. Quando se reencontraram, Antonioni lhe disse: “Acho que tenho uma ideia”. E como tinha!
Outra história que Monica conta é da péssima recepção do filme em Cannes em 1960. Vaiado, ironizado durante a sessão, na qual se conversava e se ria, A Aventura foi desagravado no dia seguinte por um manifesto assinado por vários cineastas e críticos de primeira linha. No texto, além de repudiar a reação pouco civilizada, diziam que aquele era o filme mais belo que já haviam visto naquele festival. A primeira assinatura era de ninguém menos que Roberto Rossellini; a última, de Georges Sadoul.
Em A Noite, Lidia (Jeanne Moreau) e Giovanni (Marcello Mastroianni) são um casal cansado, exausto de si mesmo, que visita um amigo à morte no hospital. Depois, vão a uma festa burguesa, uma longa noite de encontros e experiências que termina com os dois no jardim. Aquilo talvez pudesse ser uma reconciliação, mas não ficamos muito seguros disso. Reconciliamo-nos depois de uma briga, quando os ânimos ficam exaltados e falamos coisas que não sentimos para valer. Mas como se reconciliar quando a fadiga é do próprio material que compõe aquele relacionamento? O tédio, apenas o tédio parece, de alguma forma misteriosa, dar liga àquele casal. Eles talvez continuem, mas nem isso é animador.
O Eclipse é meu favorito, se é que é possível eleger preferências em obras desse nível. Em todo caso, é o que mais me toca. Monica Vitti (Vittoria) termina um relacionamento e acaba por se envolver com um jovem operador da Bolsa de Valores, Piero (Alain Delon). Mas o romance, para os dois, não pode ser normal. Ou natural. Nesse ambiente de angústia do pós-guerra, da ameaça nuclear, da angústia, nada pode fluir naturalmente. Acho o desfecho um dos mais extraordinários da história do cinema, como se os humanos fossem deixando espaço para que as coisas e a natureza falassem e tomassem o seu lugar. Lugar num mundo em que a humanidade talvez não tenha merecido viver. É como um suspiro, que dizem os astrônomos, é o jeito como as estrelas morrem.
Talvez seja este terceiro filme o mais rigoroso, do ponto de vista plástico, dos três. O desenho desse desfecho, com seus bons talvez sete ou oito minutos de planos tensos, é perfeitamente geométrico; algo pensado por alguém que incluía a pintura entre as suas referências cultas. Que aliás, são muitas e profusas.
Revi o filme ontem à noite e notei detalhes que não havia reparado em outras vezes. Há muita coisa ali. A incomunicabilidade, certo; mas também o irrisório do capitalismo, exposto na especulação da Bolsa, nos estragos que produz em todos e mesmo em seus beneficiários; alguns toques estranhos como o bêbado que morre após roubar o carro de Piero; as flores que o especulador arruinado desenha enquanto medita se deve ou não se matar; a estranha amiga africana de Vittoria, com seus fuzis e troféus de caça. Há até uma involuntária menção ao Brasil, na forma de uma manchete de jornal. Enfim, há nele uma miscelânea da vida entediada da burguesia italiana, que se expõe à maneira de um mosaico – e se oferece à nossa leitura intelectual e às nossas reações emocionais.
Porque se vemos bem um filme não dispensamos a primeira e nem as segundas. Antonioni é uma fonte inesgotável de estímulo ao nosso crescimento interior e à nossa compreensão do mundo. Mais uma vez: uma coisa não nega a outra; ambas se completam na fruição de grandes obras como é o caso desta Trilogia. Não vamos nos enganar: é um dos momentos altos do cinema em todos os tempos.
7/2/22
Eros, 2004, Michelangelo Antonioni, (segment "The Dangerous Thread of Things"), Steven Soderbergh (segment "Equilibrium"), Kar-Wai Wong (segment "The Hand")
Sinopse
Filme em três episódios sobre amor e erotismo. The Hand, de Wong Kar-Wai, passa-se em Xangai, em 1963. Um jovem alfaiate cultiva um silencioso amor pela mulher para quem ele confecciona roupas. Equilibrium, de Steven Soderbergh, é situado em Nova York, em 1955. Um publicitário conta para seu analista os sonhos eróticos que tem com uma mulher familiar, mas de quem ele esquece o rosto assim que acorda. Il Filo Pericoloso Delle Cose, de Michelangelo Antonioni, tem como cenário a Toscana nos dias de hoje, onde se destaca um casal de meia-idade numa relação desgastada. Em meio ao impasse, o homem passa uma noite apaixonante com uma mulher mais jovem. (AdoroCinema)
Eros (2004) de Wong Kar-wai, Steven Soderbergh e Michelangelo Antonioni
De Ricardo Vieira Lisboa · Em Junho 29, 2017
Em filmes colectivos onde vários realizadores assinam curtas-metragens sob um chapéu agregador – mais ou menos amplo – há o hábito de as dissonâncias que as obras provocam num conjunto polifónico do filme serem maiores que os acordes que se estabelecem entre cada uma delas. Eros (2004) é uma dessas obras colectivas, assinada por Wong Kar-wai, Steven Soderbergh e Michelangelo Antonioni sob o chapéu – titular – do erotismo. Na verdade este omnibus (como lhe chamam os anglófonos) tem origem no desejo de encontrar um espaço para o então nonagenário Antonioni fazer o seu último filme – ele que já estava bastante doente à altura, quase cego mesmo. Não é pois por acaso que os segmentos de transição que separam cada uma das curtas sejam acompanhados pela voz de Caetano Veloso cantando, nem mais nem menos, “Michelangelo Antonioni“. Mas dizia, é comum nestes projectos que a singularidade de cada autor envolvido prejudique a unidade da empresa, na medida em que os filmes se vêem obrigados a comunicar (de forma por vezes forçada) mesmo quando têm pouco a dizer uns aos outros: como as gentes que quando não têm o que dizer falam da atmosfera e do comer. Não é (totalmente) o caso, em Eros, onde as três curtas-metragens trabalham sobre uma ideia de cinema fundamental: o fora de campo.
The Hand, o tomo de Kar-wai, é disso um exemplo claro. Nos seus mais de 40 minutos o filme conta a história de um alfaiate apaixonado por uma prostituta, um amor consumado no momento em que se conheceram e nunca depois prosseguido. Estamos em território Kar-waiano puro: a chuva cai lá fora, ocupamos quartos e corredores de hotel mal iluminados, ouvimos conversas trocadas em murmúrio, os violinos tocam, os homens envergam delicados bigodes e a brilhantina cobre-lhes a fronte, os rostos iluminam-se levemente contra a negrura dos fundos sedosos e a câmara enquadra, com igual destaque, a acção dos personagens e o papel de parede (a mão do director de fotografia Christopher Doyle). The Hand enquadra-se na obra do realizador de Hong Kong na ressaca estética de 2046 (2004) – a sequela (nos dois sentidos da palavra) de Faa yeung nin wa (Disponível Para Amar, 2000) – e antes da sua funesta incursão americana My Blueberry Nights (My Blueberry Nights – O Sabor do Amor, 2007). É portanto um filme que de certo modo marca o momento de declínio popular e crítico do realizador que tivera nos anos 1990 a sua fase áurea. Como ponto de viragem manifesta as qualidades que elevaram Kar-wai a grande autor mundial e, simultaneamente, as fragilidades do estilo que o consagrou (ou o estilo como fragilidade). Há, neste The Hand, a cristalização de um modo de fazer que, ainda assim, tem a ousadia insubmissa dos seus primeiros filmes.
Mas regresso ao fora de campo, uma das primeira cena do filme (e que espoleta – literalmente – toda a narrativa) é o tal encontro consumado entre o alfaiate e a prostituta que se faz através da homónima mão do título. Posto doutro modo, Gong Li acaricia Chang Chen através de uma mise en scène obscura que só nos dá a ver os rostos e as suas reacções àquilo que a mão faz no fora de campo. Mas já antes Kar-wai usara o fora de campo nas cenas do telefone, dos gemidos por detrás das cortinas ou como forma de nos escudar da decadência da prostituição e esse será o signo do seu olhar: a câmara que esconde a mão e a mão que tapa da vista. Um jogo de gato e rato feito exercício de prestidigitação erótico onde o que se esconde na manga é mais que a agulha do alfaiate. Aliás, The Hand é um freudiano sonho molhado sobre os mecanismos das substituição fetichista que encontra o seu auge perverso no fisting de tafetá em que Chang Chen penetra o vestido nunca estreado de Gong Li. As nuances de Kar-wai desfazem-se quando tudo se explicita num final onde se ouve que a mão do alfaiate conhece melhor o corpo da cliente, do que a mão de qualquer amante. Mas gostoso é o facto de essa mão conhecedora ser, afinal, guiada pela memória da outra mão: a punheta da máxima inspiração. Um conto que mais parece uma exploração linguístico-psicanalítica das significações da palavra “mão”.
Nem de propósito o segundo episódio, Equilibrium de Steven Soderbergh, passa-se quase integralmente no divã do psicanalista. Como é comum no cinema de Soderbergh tudo aqui é uma anedota contada com um virtuosismo elegante e frio – coisa improvável quando o erotismo é a charneira do projecto, mas expectável quando se compreende que esse é o veio comum do cinema do realizador. Ao longo da carreira, e de forma mais pronunciada depois de Traffic (Traffic – Ninguém Sai Ileso, 2000), os seus filmes vêem-se distanciando dos seus personagens num acto de desprendimento, cada vez mais pronunciado, ajudado pelas tramas: os trabalhadores do sexo – The Girlfriend Experience (Confissões de Uma Namorada de Serviço, 2009) e Magic Mike (2012) –, o perigo de contágio mortal – Contagion (Contágio, 2011) –, a coolness dos seus protagonistas que permitia ver pouco mais do que as próprias estrelas a gerirem o seu brilho – a trilogia Ocean’s –, a cinefilia autofágica – The Good German (O Bom Alemão, 2006), já anunciada nesta curta que é uma ode à fotografia dos noirs e à década de 1950 –, a droga como a forma mais eficaz de nos desligarmos do mundo – Side Effects (Efeitos Secundários, 2013). Muito do seu cinema se “liga” ao alheamento do mundo, talvez pelo medo que tinha dos seus personagens.
Equilibrium é mais uma vez um filme feito sobre o fora de campo, desta feita um fora de campo de dupla natureza: referente ao protagonista (Robert Downey Jr.) e a nós, espectadores. A sessão de auto-análise organiza-se, afinal, segundo dois eixos aparentemente opostos, a profundidade de campo (que dá a ver) e o fora de campo (que esconde): através da primeira temos acesso àquilo que se passa nas costas do protagonista, através da segunda é nos negado conhecer o que se passa além da janela (negação semelhante à do personagem). A brincalhona manipulação soderberghiana ganha novo revés quando este exercício formal se verte no binómio sonhar-a-dormir/sonhar-acordado, isto é, quando o filme se transforma num confronto entre as fábulas do inconsciente e as efabulações do consciente (a oposição entre o sonho recorrente do paciente e o voyeurismo do terapeuta – Alan Arkin). Um humor fino e finamente escrito que termina com uma punchline descabelada (literal e formalmente – já que na sucessão de aviões de papel também o filme se desfaz do seu manto de credibilidade revelando todos as tomas necessárias para criar um plano eventualmente cortado – o outro e definitivo fora de campo do cinema).
Se The Hand trabalha o que não se vê e Equilibrium reflecte sobre os diferentes graus de obstrução, Il Filo Pericoloso Delle Cose, o terceiro e último tomo de Michelangelo Antonioni (último também no sentido de derradeiro), explora a ideia do erótico como fora de campo pelo sentido mais improvável: a frontalidade, ou melhor, a frontalidade do nu. A pedra-de-toque do cinema de Antonioni está repleto de mulheres desnudas (João César, foste tu?) que se passeiam sob cedas transparentes e proferem linhas de diálogo misteriosas. À estreia a maioria da crítica norte-americana arrasou o episódio do italiano (louvando unanimemente o do chinês): Rosenbaum descreveu-o como “clumsily acted and closer to standard porn than anything else he’s done”, A.O. Scott vê-o “between a Mad magazine satire and a Maxim photo spread” e Roger Ebert concluiu com “The result is soft-core porn of the most banal variety”. Aos dias de hoje o filme constitui-se como um objecto de surpreendente força e estranheza (forte porque estranho): começando pela dessincronia dos diálogos – piscadela de olho à trilogia dos casais tristes –, que juntamente com a banda-sonora pornô à anos 1970 e a resplandecência da alta-definição digital tornam a curta-metragem num objecto anacrónico sem referente no cinema contemporâneo. Aliás, das maiores maravilhas de Il Filo Pericoloso Delle Cose é o modo como, a espaços, se encontram planos que podem facilmente tornar-se independentes. Essa singularidade em potência manifesta a contemporaneidade do olhar de Antonioni (que depois de fundar o olhar moderno, procurou encontrar, nos seus últimos trabalhos, a vibração do novo milénio), que procura a sublimação em pequenos gesto, em certas vista e em certos olhares.
Il Filo Pericoloso Delle Cose sucede-se em composições de grande pujança dramática e simbólica: o plano de abertura da mulher dormindo ao sol, outra cavalgando à beira mar, o copo que cai da mesa e rola no solo, as musas cantando na água, o pé que antevê a masturbação, os bailados nus no quebrar das ondas, o plano final onde uma mulher faz sombra na outra. Esta desagregação formal do filme a partir de dentro é a mesma da narrativa. Há, nesses planos, uma ideologia do olhar que vagueia fora dos trâmites narrativos clássicos e que não anda muito longe de alguns filmes tardios de Jean-Luc Godard ou mesmo (o horror!) Andrzej Zuławski: uma força simbólica que se desconstrói através do excesso, uma pureza anti-interpretativa que encontra em certos planos uma estética paroxística.
Isto porque do mesmo modo que vemos um filme em que o realizador sabe que se encaminha para a morte, as próprias imagens parecem já destituídas de uma vida concreta, parecem já apenas signos de gestos, apuramentos formais extremos (Antonioni à Straub? à Costa? vice-versa?) do real que o destituem da sua concretude. É daí que se justifica (ou melhor se compreende) a aproximação ao soft-porn e ao euro-trash erótico, porque aí tudo aparecia já refinado pelos esquemas explorados ad nauseam pela pornografia, refinamento esse que, por um caminho mais longo e tortuoso, não é muito diferente do rigoroso lirismo epopeico de Straub e Costa. Desse confronto irónico surge Il Filo Pericoloso Delle Cose, um louvor ao fim das coisas, contente de as ver partindo. Ou como diz, a certa altura, um dos personagens, “andas sempre à procura da pureza, mas acabas sempre na merda” – ou como encontrar na merda a pureza.
Sobre Gong Li, 1965
Red Hot Chili Peppers - Gong Li
Gong Li: [sobre
as diferenças entre atuar em filmes chineses e hollywoodianos] Em
termos de desempenho, não é tão diferente. Claro que, em termos de
diálogo, há uma diferença linguística, e isso faz a diferença. Quando
falo em inglês, minhas expressões se tornam diferentes. Minha atitude
também. Não sei por que, mas há realmente uma diferença. Minhas mãos se
movem de forma diferente quando falo inglês. Mas em termos de
desempenho, não é tão diferente. Não será porque estou em um filme
estrangeiro que minha abordagem é diferente. Meu treinamento me permitiu
fazer contato com várias possibilidades diferentes. Quatro anos na
faculdade me deixaram trabalhar com excelentes professores que me deram
uma boa base.
8/2/22
Vítimas da Tormenta, Sciuscià, 1946, Vittorio De Sica
Filme no iutubi aqui
Sobre Vittorio De Sica (1901–1974)
Crítica | Vítimas da Tormenta (Sciuscià), por Luiz Santiago 22 de fevereiro de 2016
A semente do Neorrealismo Italiano plantada por Luchino Visconti, em 1943, com Obsessão, trouxe para o cinema italiano e depois para o cinema mundial uma forma mais crua, triste e… real de ver o mundo. O movimento, que oficialmente foi iniciado após a Segunda Guerra Mundial, tendo Roma, Cidade Aberta (1945) como um ponto de partida comumente aceito, teve neste início poucas obras que de fato abordassem o caráter humano, social e até psicológico dos italianos que lutavam pela sobrevivência em uma nação destruída e que ainda amargava o ranço do fascismo, especialmente nos departamentos de Estado.
Depois de Dias de Glória (1945, de diversos diretores), O Bandido (1946, de Alberto Lattuada) e Paisà (1946, de Roberto Rossellini), foi a vez de Vittorio De Sica contribuir mais uma vez de forma astuta com esse grupo de cineastas que viam no cinema uma forma de espelhar o mundo fora do glamour dos festivais e das salas de cinema e talvez fazer algo por aquelas pessoas que sofriam, sem perspectiva de mudança. A intenção, que se perderia como motivo estético-narrativo de base em menos de uma década (a rigor, foi o próprio De Sica quem pôs o ponto final ao movimento em 1952, com Umberto D.) ainda hoje pode ser vista, seja em ficção ou documentários que abordam realismo social, sempre trazendo muito do Neorrealismo Italiano, um dos movimentos que mais reuniu obras humanitárias, críticas e tocantes e que jamais fraquejavam em apontar a tragédia como parte cotidiana da realidade. Vítimas da Tormenta (1946), de Vittorio De Sica, é um exemplo disso.
Se dois anos antes o diretor já havia feito uma contribuição para a construção do movimento com o filme A Culpa dos Pais, foi em Vítimas da Tormenta que ele obteve destaque junto à crítica e ao público fora da Itália, sendo este então o seu primeiro trabalho a lhe render qualquer tipo de reconhecimento grande da comunidade cinematográfica, com uma indicação ao Oscar de Roteiro Original e o recebimento de um Oscar Honorário.
A história dos garotos Pasquale e Giuseppe, que tentam ganhar algum dinheiro engraxando sapatos em Roma logo após a Segunda Guerra é um baque para qualquer espectador. Sem piedade, sem floreios, o roteiro nos apresenta uma série de adversidades que se misturam a acasos, azares e emoções adolescentes, guiando a obra a partir das ações dos garotos e nos propondo pensar sobre condições sociais, miséria, sistema prisional, direitos humanos, educação e papel do Estado na tentativa de melhorar a vida e oferecer segurança aos seus cidadãos. Sem teorizar de forma maçante ou criar mártires, o texto nos mostra a culpa dividida em vários blocos, sem nunca colocar um dos lados como completo inocente e sem nunca criar qualquer verdade absoluta. Através do cotidiano de Pasquale e Giuseppe, vemos como alguns incidentes podem sair do controle e transformar a vida de dois adolescentes em um verdadeiro inferno, sentimento que nos traz à mente vislumbres de Zero de Comportamento, de Jean Vigo e nos mostra uma das fontes principais de Luís Buñuel para conceber Os Esquecidos, apenas 4 anos depois.
De Sica é extremamente objetivo em sua direção, raramente deixando-se levar por eventos supérfluos e, nas poucas vezes em que isso acontece, escolhendo momento e duração corretas. Cada espaço dramático conta um evento da vida dos garotos e a partir dessa consumação a trama segue com uma consequência para o espaço seguinte, momentos sempre separados um fade, recurso de montagem que cansa o espectador, mas que não atrapalha em nada a apreciação da fita. Mesmo não trabalhando com atores profissionais (os garotos protagonistas jamais tinham aparecido na frente de uma câmera, o que por si só já denota a capacidade do cineasta, vide o resultado final que temos dos dois em cena) e com uma abordagem amplamente ágil de locações — com externas e internas sob ângulos e planos cada vez mais fechados, especialmente a partir do momento em que os garotos dão entrada no reformatório — De Sica nos faz percorrer Roma e arredores como testemunhas de uma tragédia social que sustenta o título em português que o filme recebeu.
Vítimas da Tormenta é uma obra difícil e até cruel pela forma como explora a descida de dois rapazes ao submundo do crime e pela forma abrupta e crua com que nos entrega o final. Todavia, por mais que isso nos incomode, imediatamente percebemos o quão real e o quão atual para nós é esta realidade observada pelo diretor e 1946. Para um mundo que tanto evoluiu em tantos aspectos, parece que estacionamos e criamos formas de esconder um coisa realmente importante em todo esse processo. A nossa humanidade.
Vítimas da Tormenta (Sciuscià) — Itália, 1946
Direção: Vittorio De Sica
Roteiro: Sergio Amidei, Adolfo Franci, Cesare Giulio Viola, Cesare Zavattini
Elenco: Franco Interlenghi, Rinaldo Smordoni, Annielo Mele, Bruno Ortenzi, Emilio Cigoli
Duração: 93 min.
9/2/22
A Maleta Fatídica, Nightfall, 1956, Jacques Tourneur
Filme no iutubi aqui
Crítica | A Maleta Fatídica, por César Barzine 28 de abril de 2021
Os protagonistas do cinema noir são predominantemente marcados por uma certa dureza em sua postura, o confronto deles com os perigos em volta são respondidos com rigidez e uma leve agressividade. Há um tom de frieza naqueles homens perante o calor das armas e de seus inimigos. A Maleta Fatídica inverte esse arquétipo ao entregar James Vanning, um personagem que carrega uma relativa fragilidade, com a ausência daquela brutalidade que tanto existia nos outros filmes deste estilo. Não que sua persona seja rebaixada à caricatura de um homem fraco completamente impotente, o que existe aqui é o equilíbrio ao criar um personagem que se desvia da aparência de homem obscuro que a estética noir construiu. É uma leveza mais na aparência do personagem do que em suas ações, onde o protagonista é humanizado enquanto aguenta e combate todas as tensões ao seu redor.
E esse é o cerne de todo filme noir: a tensão. Presente tanto nos personagens quanto no público, este elemento sempre surge dos conflitos que aliam o perigo aos desejos e instintos humanos. Neste caso, James está do primeiro lado, o que fica completamente transparente no início do filme, onde, sob a noite iluminada das ruas, ele olha para os lados, sugerindo paranoia e demonstrando seus nervos. Aldo Rey, o intérprete de James, acaba executando uma excelente atuação, além de sua linguagem facial apresentada, ele consegue dosar múltiplos aspectos dramáticos no desenrolar da trama.
Pois o nível dramático em cada elemento de seu personagem é sempre marcado por esse equilíbrio; seu medo, sua autoproteção e seu romance nunca chegam a extrapolar um limite e atingir alguma intensidade. Tudo se mantém na superfície, construindo um personagem rico justamente por não se aprofundar em nada.
Jacques Tourneur produz aqui um admirável trabalho de mise-en-scène, seja na decupagem ou no posicionamento de seus atores. Seu jogo de câmera se destaca mesmo sem estilizar os planos, mantendo, ao mesmo tempo, uma simplicidade e uma alta beleza. Um momento louvável disso é quando James está sentado no balcão de um restaurante conversando com uma mulher (Marie, a modelo) que passa a fazer companhia a ele. Os enquadramentos em planos conjuntos ligados à direção dos rostos dos personagens causam uma frieza e um charme naquela cena. Sempre com os dois atores enquadrados simultaneamente, seja em planos médios ou em closes, a posição das faces deles nunca se encontram. Enquanto James olha para Marie, a modelo fica em direção frontal. E quando Marie vira o rosto para James, a face deste está direcionada para frente. Seus olhares não se cruzam. Não há significado nisso tudo, a única coisa que há, além da beleza da cena, é o mistério e a sensação de que os dois personagens estão prestes a cair em um abismo.
A mesma dinâmica se mantém quando eles se sentam numa mesa. A cena começa com um plano detalhe num café que, através de um zoom-out, se abre e se transforma em um plano geral, arrancando uma bela exposição daquele ambiente. Mas quando a conversa entre os dois vai ficando mais pessoal e James começa a lançar sorrisos, Tourneur passa a usar closes isolados dos atores, fazendo com que o diálogo deles fique entre plano-contraplano, contribuindo para o clima descontraído que tomou a relação dos dois.
A cena em que James lida com os criminosos dentro do carro apresenta essa mesma manipulação no posicionamento dos rostos dos personagens. Eles também não são colocados face a face, mas desta vez há um subtexto maior por trás disso: James demonstra aflição e o homem ao seu lado está no comando daquela situação. E o alto domínio da direção de Tourneur nesta cena vai muito além: o momento em que o capô do carro vai preenchendo toda a tela, o plano detalhe na arma, o movimento da câmera sob o corpo de um dos criminosos; tudo isso evoca uma maestria cênica que, ao contrário da sequência anterior, consegue estilizar aqueles planos.
Outro exemplar do brilhantismo de Tourneur é no flashback em que James está acampando com o seu amigo médico e avista um acidente na estrada. O carro capota e cai numa colina, mas neste momento Tourneur não filma o acidente por completo, e sim enquadra James o observando. Ou seja, o ponto central daquele acidente dentro da história está mais em James do que nos passageiros que estavam no carro. Tourneur acaba sugerindo que há algo de estranho por trás daquele caso e este momento é a cena-chave do início do que estar por vir. A partir daí, um conflito com os criminosos se desenrola numa exposição a céu aberto durante o dia que lembra muito bem O Mundo Odeia-me, onde aqueles dois personagens agora se encontram completamente sufocados pelo perigo que se ameaça.
A Maleta Fatídica possui um ritmo extremamente dinâmico, cada momento agrega bastante conteúdo à história, construindo uma trama intensa e muito bem articulada. O filme dura menos de 80 minutos, mas devido à narrativa agitada, a impressão é de que toda a obra perpassa essa metragem. Parte desse valor substancial da trama vem da fusão de três enredos paralelos: o caso de James no presente, seu flashback com o acidente e a investigação de um detetive. Esse último não assume uma oposição antagônica a James, assim como o protagonista, ele recusa qualquer dureza e busca apenas esclarecer as coisas. Na segunda sequência do filme é exposto o ambiente familiar dele com bastante serenidade, assim são neutralizadas as suas convicções quanto a James, servindo de peça-chave para a resolução do caso em seu desfecho.
Além de seu roteiro com uma enredo intenso que se movimenta a cada instante, A Maleta Fatídica vem acompanhado de uma série de detalhes visuais que enriquecem ainda mais o filme. O match cut da chave, a parte em que duas cenas distintas são interligadas sob a pergunta das horas e o close produzido por um zoom-in quando James está na estrada são momentos brilhantes dignos de genialidade. E como todo bom noir, o desenvolvimento da narrativa é marcado por bastante mistério e ainda vem dosado de diversas cenas tensas (principalmente no final).
Mas A Maleta Fatídica vai além: é uma verdadeira obra-prima, com uma cativante junção de maestria no roteiro e na direção. Vemos as qualidades de Tourneur em cada instante, cujo visual do longa ultrapassa o charme da estética noir, e a sua mise-en-scène extrai enorme força, seja em momentos de quietude ou de perigo. Tourneur constrói as sínteses mais perfeitas que um filme noir poderia ter, colocando-se no panteão desse maravilhoso subgênero.
A Maleta Fatídica (Nightfall – EUA, 1956)
Direção: Jacques Tourneur
Roteiro: David Goodis (romance), Stirling Silliphant
Elenco: Aldo Ray, Art Rayburn, Brian Keith, Anne Bancroft, Jocelyn Brando, James Gregory, Frank Albertson, Rudy Bond
Duração: 79 minutos.
11/2/22
Belfast, 2021, Kenneth Branagh
Libera - Danny Boy Ao vivo (Solo: Isaac London)
Crítica | Belfast (2021), Crystal Ribeiro 02/03/2022
Os primeiros minutos de Belfast, que estreia nos cinemas na quinta-feira (10), são simbólicos no desenvolvimento da proposta do filme. Neles, o menino Buddy (Jude Hill), de nove anos, brinca pelas ruas de seu amado subúrbio quando inicia-se um conflito entre católicos e protestantes que culmina em brigas, ataques e até carros explodindo na porta de sua casa. Esta guerra civil, também conhecida como The Troubles, durou até o final dos anos 90 e marcou um período de muita insegurança e medo na Irlanda do Norte, onde vizinhos eram obrigados a se opor uns aos outros sem motivo aparente. É através do paralelo entre a ingenuidade infantil e a falta de sentido em conflitos como este que o diretor e roteirista Kenneth Branagh escolhe contar essa história, levemente inspirada em sua infância, também vivida na capital Belfast.
Bem mais preocupado em aumentar as notas para conquistar a crush do colégio do que em entender a balbúrdia que fazem os adultos, Buddy vê seu pequeno universo invadido por grandes problemas. O pai (Jamie Dornan) é um homem amável, mas que passa semanas longe, trabalhando em Londres; sua mãe (Caitriona Balfe) fica encarregada de criar e educar os filhos, mas vive angustiada com a instabilidade da família. Quando as coisas apertam, Buddy se refugia na casa dos avós (Judi Dench e Ciarán Hinds), que lhe dão carinho e os conselhos que precisa. A dinâmica familiar é boa, mas conforme a guerra avança, fica cada vez mais difícil deixar do lado de fora os problemas que ela acaba gerando, e não tem estrutura familiar que não se abale com isso.
Fica evidente o tempo todo que Belfast é um projeto bastante pessoal para Branagh. É possível sentir o cuidado e preciosismo com que ele trata cada momento da história, desde o tratamento do roteiro até questões técnicas como fotografia e enquadramentos. Existe aqui muito talento e afeto, e mesmo que por vezes ele perca o foco sobre a abordagem que deseja, seu longa continua uma obra tocante e sensível sobre as dores e alegrias de uma infância vivida em meio à conflitos que a inocência da criança não consegue mesurar.
Menos de um mês depois do lançamento de Morte no Nilo, Kenneth volta a esbanjar seu talento como diretor, lançando mão de uma visão lúdica para abordar esse momento tão grave da história da Irlanda. Aos olhos de Buddy, cujo universo infantil é captado com sensibilidade e muita delicadeza, a guerra é uma mera coadjuvante. O que realmente importa é ver seus pais juntos, assistir filmes na matinê do fim de semana e poder brincar com os amigos pelas ruas que conhece desde que nasceu. Enquadramentos inusitados e criativos constroem o universo inocente do garoto e, aos poucos, o espectador vai sendo transportado para uma infância talvez muito distante da que viveu, mas com a qual estranhamente consegue se identificar.
A ambientação nos anos 60 é rica tanto em figurinos quanto em referências à cultura pop. O longa é meticuloso até em pequenos detalhes e a escolha pela fotografia em preto e branco é mais um dos acertos da reconstrução de época, fundamental para que o espectador tenha uma experiência ainda mais imersiva. Aqui, o preto e branco não é apenas um acessório, ele ajuda na representação das memórias do diretor, evidenciando os momentos de pureza e genuíno escapismo de Buddy, geralmente no teatro e no cinema. São passagens bastante tocantes e que conversam diretamente com a infância e as memórias do público.
Contudo, Belfast peca no momento em que procura assumir aquela que parecia ser sua proposta desde o início. Tirando a cena inicial e algumas poucas em que Buddy se envolve diretamente nos conflitos que invadem a cidade, é difícil ver o que se passa através de seus olhos porque ele está sempre muito distante de tudo. O longa perde o foco da proposta inicial e coloca o protagonista tão alheio ao que está acontecendo que ele acaba perdendo seu propósito. Belfast, que tem a intenção de mostrar a guerra através dos olhos de Buddy, acaba dando mais destaque que o necessário aos pais do menino, e o resultado é um filme cujo protagonista é aparece como coadjuvante na própria história.
Não que Caitriona Balfe ou Jamie Dornan não tenham condições de assumir a responsabilidade. Ele consegue se desvencilhar muito bem da imagem que 50 Tons de Cinza ajudou a criar entre o público, mas a presença de Caitriona é ainda mais marcante e a atriz rouba todas as cenas em que aparece. Apesar do foco excessivo que recai sobre os dois, o roteiro não desenvolve bem certas questões que acompanham os personagens, também deixando a desejar no envolvimento de Buddy nos conflitos que cercam sua família. Em contrapartida, Jude Hill tem talento e carisma de sobra e fica impossível para o espectador se encantar por suas aventuras.
Como homenagem, Belfast consegue ser a carta de amor que Branagh intencionava escrever sobre sua infância. O tom lúdico e de genuíno fascínio com que ele capta as experiências de Buddy na escola, na igreja ou em contato com a arte é preciso e muito emocionante, capaz de deixar qualquer espectador apaixonado. Já nos momentos em que precisa colocá-lo frente a frente com a realidade que o cerca, o diretor acaba fraquejando e Belfast perde muito do peso dramático que poderia ter. É um longa visualmente bonito, divertido e com ótimos momentos, mas está longe de merecer o título de melhor filme ou roteiro do ano.
11/2/22
King Richard: Criando Campeãs, King Richard, 2021, Reinaldo Marcus Green
Crítica – King Richard: Criando Campeãs
Drama biográfico sobre a trajetória das irmãs Williams expressa muita emoção enquanto comenta os desafios raciais e sociais para que negros sejam notados
Publicado por Aléxis Perri, 01/12/2021
Geralmente quando planejam desenvolver longas-metragens sobre personagens icônicos do esporte, já é sabido que terão algumas situações específicas a serem discutidas durante a fase de pré-produção do projeto. Uma delas é como iremos levar a história da figura biografada para o público. Será estilo ‘cradle to the grave’ (traduzindo, do berço ao túmulo)? Ou preferem selecionar um momento especial de superação na carreira profissional do atleta em destaque? Ou mesmo contar usando de ‘flashbacks’, onde uma outra personagem revela a sua perspectiva do que um dia foi viver ou trabalhar ao lado daquele esportista?
Existem variadas formas de contar uma história inspirada em eventos esportivos relevantes. Isso é o que torna algumas destas narrativas tão atraentes em alguns casos. Porém, existem grandes atletas e pioneiros que foram símbolos de mudança radical no cenário vigente.
Em King Richard: Criando Campeãs testemunharemos a segunda versão, que conta as conquistas e percalços das irmãs Venus e Serena Williams. A irmã mais velha Venus conquistou o mundo do tênis profissional primeiro, mas foi Serena que se tornou a maior tenista feminina de toda a história na modalidade!
Portanto, não é uma história fácil de se contar, pois boa parte das pessoas já tem conhecimento embasado sobre quem são as irmãs Williams e o que elas fizeram pelo esporte. Desta maneira, foi uma sacada muito interessante do roteiro escrito por Zach Baylin em contar os fatos pela perspectiva do pai das futuras campeãs: Richard Williams.
Armado com uma visão clara e um plano descarado de 78 páginas, Richard Williams (Will Smith) está determinado a escrever suas filhas, Venus (Saniyya Sidney) e Serena (Demi Singleton), para a história. Treinando nas quadras de tênis negligenciadas no bairro de Compton, Califórnia, vemos que as meninas são moldadas pelo compromisso inflexível de seu pai e pela perspectiva equilibrada e intuição aguçada de sua mãe (Aunjanue L. Ellis), desafiando as probabilidades aparentemente intransponíveis e as expectativas prevalecentes colocadas diante delas.
Sobre paternidade e raça
É óbvio que enquanto assistimos King Richard: Criando Campeãs, analisamos que esta é uma história sobre paternidade. Praticamente chover no molhado comentar sobre este tema de modo mais aprofundado. Agora, o aspecto mais cativante do enredo desta obra dirigida por Reinaldo Marcus Green (Monstros e Homens; Joe Bell) vem pelo tipo de abordagem que examinamos entre pai e filhas. Na maior porção do tempo, ele atua mais como treinador do que como um genitor caloroso. Nesse momento percebemos uma tonalidade eastwoodiana no trabalho de Green, mais especificamente, o Clint Eastwood de Menina de Ouro (2004) e Gran Torino (2008).
Richard quer que suas garotas de ouro sejam as melhores das melhores, ele está decidido que não aceitará nada menos que isso! Ao mesmo tempo, faz o impensável para qualquer pai e mãe que almejam coroas de louros na vida de seus amados rebentos: seguram-nos de um caminho de sucessos.
Igualmente os personagens interpretados por Eastwood nas produções citadas acima, notamos que Richard Williams quer proteger (!) suas meninas de um mundo que não está preparado para elas, cobrará mais delas do que outras, e pior, tentará por vezes diminuir seus feitos dentro do mundo do tênis profissional.
Assim sendo, King Richard: Criando Campeãs também é, essencialmente, sobre raça e todas as dificuldades e obstáculos encontrados pela comunidade negra americana para conseguir o mínimo respeito e um lugar ao sol nos clubes elitistas que assistem Venus vencendo quaisquer competidoras apareçam em seu caminho.
O pai
Falar sobre King Richard: Criando Campeãs significa falar sobre Will Smith. O ator americano de 53 anos de idade entrega aqui um de seus trabalhos mais surpreendentes na carreira. Reparamos facilmente algumas mudanças no timbre da voz, curvatura das costas, além de outros detalhes técnicos que facilitam a imersão do ator em cena. Tudo isso é válido e contribui, mas o que mais chama a atenção e que sempre foi uma qualidade singular dele foi seu olhar. Will Smith é extremamente capacitado em expressar verdade pelos olhos, sejam estes os sentimentos que forem. Ele dá conta do recado!
Contudo, continuar comentando sobre as escolhas físicas e aparentes de Smith para compor Richard Williams não irá adicionar tanto, quanto dissertar sobre quem foi o homem que moldou de modo rígido e terno: duas garotinhas prestes a se tornarem símbolos de superação e referência para tantas outras garotas negras vindas de comunidades mais desfavorecidas de nossa sociedade desumanamente desigual.
O pai das irmãs Williams personificou alguém complexo, que balançava entre o crente incentivador e o homem (no sentido masculino) egocêntrico. Verificamos no patriarca em questão alguém que reprime muitas inseguranças e medos por tudo o que viu enquanto crescia em uma América que desfavorecia homens como ele e que ainda resiste mudanças necessárias para que testemunhemos menos injustiças mundo afora.
Não só pela firmeza, mas também pela vulnerabilidade de Richard Williams que entendemos de alma e coração o sucesso de Venus e Serena, assim como também compreendemos porque nos entregamos em confiança à King Richard: Criando Campeãs com tamanho prazer.
12/2/22
Ouro Para Um Pistoleiro, Where the Hell's That Gold?!!?, 1988, Burt Kennedy
Filme no iutubi aqui
Cross e Boone roubam um carregamento do Wells Fargo e fogem para o México em plena revolução. Eles são capturados e obrigados a atravessar o México com um trem carregado de dinamites, só que nessa travessia terão que enfrentar rebeldes, índios e os homens do Wells Fargo que os perseguem
13/02/2022
Sexta-Feira 13, Black Friday, 1940, Arthur Lubin
Filme no iutubi aqui
Sexta-Feira 13 (1940), 13/11/2020
Quando nos deparamos com um filme com o título nacional Sexta-Feira 13, logo vem à cabeça a popular franquia “slasher” com o psicopata mascarado Jason Voorhees, um ícone da cultura pop, com seu primeiro filme lançado em 1980 (Friday the 13th). Porém, existe outro filme com o mesmo nome nacional e título original “Black Friday”, com fotografia em preto e branco, produção de baixo orçamento do longínquo ano de 1940, e com dois dos maiores astros do cinema de horror de todos os tempos, o inglês Boris Karloff (famoso principalmente pelo papel do “monstro de Frankenstein”) e o húngaro Bela Lugosi (eternizado como o vampiro “Drácula” nos filmes da “Universal”). Sexta-Feira 13 tem direção de Arthur Lubin e roteiro de Eric Taylor e do alemão Curt Siodmak, autor conhecido pelas histórias de diversos outros filmes como O Lobisomem (1941).
O cientista Dr. Ernest Sovac (Boris Karloff) está envolvido num trabalho de pesquisa de transplante de cérebros. Depois que seu grande amigo, o professor de literatura inglesa George Kingsley (Stanley Ridges) sofre um acidente terrível, sendo atropelado por um carro em fuga de uma perseguição com tiroteios, o cientista encontra uma oportunidade de fazer uma experiência para tentar salvar a vida do amigo gravemente ferido com uma lesão cerebral irreversível. O carro acidentado era dirigido pelo gangster Red Cannon (também Ridges), que fugia dos antigos parceiros de crime, após um roubo milionário. Fraturando a coluna no acidente, o criminoso teve partes de seu cérebro transplantadas para o cérebro do professor, numa experiência ilegal em seres humanos, e que o cientista só tinha realizado em animais.
O grupo de gangsters rivais, liderados por Eic Marnay (Bela Lugosi), ainda era formado por Frank Miller (Edmund MacDonald), William Kane (Paul Fix) e Louis Devore (Raymond Bailey). Numa conspiração com a namorada de Red Cannon, Sunny Rogers (Anne Nagel), eles tentam localizar e recuperar o dinheiro roubado. Em paralelo, a personalidade pacífica do Prof. Kingsley oscila drasticamente com a influência da mente do criminoso, que ao assumir o controle transforma-se num assassino, matando violentamente seus rivais e policiais que cruzam seu caminho.
Enquanto a filha do cientista, Jean Sovac (Anne Gwynne), junto com a esposa do professor, Margaret Kingsley (Virginia Brissac), tentam entender e ajudar no conflito de personalidades, o Dr. Sovac se interessa também pela fortuna em dinheiro, que financiaria seus trabalhos de pesquisas, com sua ganância tumultuando ainda mais a confusão gerada pela dupla personalidade do Prof. Kingsley.
Sexta-Feira 13 tem apenas 70 minutos de duração e é uma mistura de filme policial com elementos de horror e ficção científica como pano de fundo, na ideia do tradicional “cientista louco” com suas experiências para o bem da humanidade, e que tem consequências desastrosas. Nesse caso, o transplante de partes de cérebros foi o responsável pela dupla personalidade do Prof. Kingsley com o gangster Red Cannon, alternando entre um homem pacato e um criminoso assassino, no estilo da clássica e popular história do Dr, Jekyll e Sr. Hyde, “o médico e o monstro” de Robert Louis Stevenson.
O simples fato da presença de Boris Karloff e Bela Lugosi, dois expoentes máximos do cinema de Horror e Ficção Científica, já traz grande crédito para o filme, agregando valor com seus nomes reconhecidos e requisitados na época. Mas, curiosamente eles não contracenam juntos em nenhuma cena no filme, e Lugosi tem apenas um papel menor e secundário, aparecendo pouco como um dos gangsters, enquanto Karloff é o cientista responsável pelo elemento fantástico que gera o conflito na trama. E certamente um destaque é a atuação de Stanley Ridges na interpretação dupla do calmo professor e do inescrupuloso criminoso, simulando personalidades muito distintas de forma convincente.
Informações de bastidores reveladas pelo roteirista Curt Siodmak dizem que Karloff inicialmente ficaria com o papel do Prof. Kingsley e o cientista Dr. Sovac seria interpretado por Lugosi, mas que depois o famoso ator da “criatura de Frankenstein” desistiu da complexidade exigida na atuação de um papel duplo e tomou o lugar de Lugosi como o cientista. O ator de “Drácula” ficou então apenas com uma participação menor como o líder dos criminosos que estão atrás do dinheiro roubado.
Outra curiosidade é que Curt Siodmak é também o autor do conto O Cérebro de Donovan (1942), que recebeu algumas versões para o cinema como A Dama e o Monstro (1944) e “Experiência Diabólica / O Cérebro Maligno” (1953), cuja história é sobre um cérebro de um homem inescrupuloso morto, mas que é mantido vivo fora do corpo e ainda consegue manipular a mente das pessoas por telepatia.
14/2/22
Um Estranho na Escuridão, I See a Dark Stranger, 1946, Frank Launder
Filme no iutubi aqui
Bridie Quilty é uma irlandesa idealista que cresceu odiando os ingleses por ouvir as histórias de seu pai, um antigo militante do IRA na Revolta de Dublin em 1919. Em 1944, antes do Dia D, quando completa 21 anos e com o pai já falecido, Bridie resolve também entrar para o IRA e vai para Dublin se encontrar com Michael O'Callaghan, antigo militante e ex-companheiro de seu pai. Mas o homem avisa que agora os irlandeses estão em paz com a Inglaterra e não há mais luta. Bridie não se conforma e sua antipatia contra os ingleses, principalmente contra Oliver Cromwell a quem o pai odiava, chama a atenção do espião nazista J. Miller que a conhecera durante a viagem. Bridie acaba aliciada por ele num plano para libertar da cadeia de Devon outro nazista, Oscar Pryce, que escondeu informações cruciais para o destino da guerra na Europa. Além dela, o militar inglês Tenente David Baynes também é envolvido por Miller que desconfiava dele e, percebendo que Bridie por quem se apaixonara corre perigo, tenta ajudá-la. Wiki
15/2/22
As Três Máscaras do Terror, I tre volti della paura, 1963, Mario Bava
O filme no iutubi aqui
Sobre Mario Bava (1914–1980)
“As Três Máscaras do Terror”: O filme que inspirou o nome da banda Black Sabbath, Leitura fílmica
O filme do mestre do terror italiano Mario Bava ganhou fama adicional porque seu título norte-americano, “Black Sabbath”, inspirou o nome da banda de heavy metal que conta com Ozzy Osbourne em sua formação. Mas, à parte essa honra incidental, “As Três Máscaras do Terror” é um clássico do suspense episódico.
O longa-metragem, na verdade, reúne três estórias, apresentadas por Boris Karloff, que na época já era um veterano do gênero. Ele introduz o filme em si, convidando a plateia a embarcar no clima sombrio por vir, como que repetindo a apresentação da clássica versão de “Frankenstein” de 1931, dirigida por James Whale, onde o ator interpretava o monstro. E chama também cada um dos episódios.
O primeiro, “O Telefone”, é um suspense que se passa na época contemporânea da produção.
Traz a atriz Michèle Mercier em clima fortemente sensual, despindo-se de suas meias ou vestindo camisola ou somente toalha. Ela faz o papel de Rosy, uma jovem que recebe telefonemas ameaçadores de um ex-amante que já morreu. É a sequência que melhor resistiu ao tempo, apesar de que um trailer da época se referia ao filme como sendo “moderno como o telefone”, o que hoje soa bastante engraçado.
A segunda estória é “Wurdalak”, baseado em livro de Aleksei Tostoy. Nesta, o próprio Boris Karloff atua, como o patriarca de uma família russa do século 19 que se encontra envolvido em uma maldição vampiresca. Tudo começa quando Vladimir D’Urfe (Mark Damon) encontra um cavalo carregando um cadáver com uma adaga enfiada nas costas e com a cabeça decepada. A arma pertence à família de Gorca (Karloff), cujos filhos Vladimir acaba conhecendo ao relatar o ocorrido. Acaba se apaixonando por Svenka (Susy Andersen) e resolve ficar para ajudar. Contudo, percebe que a maldição dos wurdalaks já se iniciou.
Esse episódio possui uma bela cenografia, ambientada no tempo e local onde a estória se passa. Mas exagera na maquiagem branca de Svenka e usa em duas cenas o recurso de acelera a velocidade do filme quando personagens correm montados em cavalos, estragando-as porque desviam a atenção do espectador. O maior defeito, no entanto, é o ritmo lento demais a partir do momento em que Vladimir e Svenka fogem, principalmente porque desembocam em um final previsível.
O último conto revela o terror gótico da trilogia e se baseia em obra de Ivan Chekov. Em “A Gota d’Água”, ambientada no início do século 20, estão em evidência as cores comuns a velórios – roxo, preto, vermelho, verde – em tons supersaturados. Há muitas luzes piscando no apartamento de Helen (Jacqueline Pierreux), quando é chamada, tarde da noite, para preparar uma senhora que morreu para ser velada e enterrada. A casa da defunta lembra a residência do cientista que inventou os androides de “Blade Runner”, com pé direito alto, bonecos em vários lugares, pouca luminosidade.
A falecida possui um semblante aterrorizador, apresentando olhos abertos que Helen não consegue fechar e a boca semiaberta com os dentes cerrados. Ao trocar as suas vestes, a moça se aproveita para furtar o anel da velhota. Ao voltar para seu apartamento, descobrirá que esse ato desonesto foi um grande erro. A música de Roberto Nicolosi e os rápidos movimentos de zoom conseguem ainda assustar o público de hoje, mas a opção de usar um boneco sem movimento como a defunta e não um ator fortemente maquiado acaba por tornar essa sequência antiquada.
“As Três Máscaras do Terror”, sem dúvida, envelheceu, mas mesmo assim mantém o interesse do espectador, principalmente daquele que curtia a série para TV “Galeria do Terror” (Night Gallery, 1968), que utilizava o mesmo formato, tendo o Rod Serling de “Além da Imaginação” (The Twilight Zone) como apresentador.
O seu título original em italiano é “I tre volti della paura”. A versão do filme que recebeu o título “Black Sabbath” foi aquela destinada ao público norte-americano, onde a produtora AIP alterou a ordem dos episódios (para: “A Gota d’Água”, “O Telefone” e “Wurdalk”), colocou áudio em inglês, usou a música de Les Baxter e trocou a apresentação inicial. Nesta, a cabeça de Boris Karloff aparece em close, claramente olhando um pouco para a direita de quem assiste, para ler o teleprompter.
As Três Máscaras do Terror (Black Sabbath/I tre volti della paura, 1963) 92 min. Dir: Mario Bava. Rot: Mario Bava, Alberto Bevilacqua, Marcello Fondato. Com Boris Karloff, Michèle Mercier, Mark Damon, Jacqueline Pierreux, Susy Andersen, Lidia Alfonsi, Massimo Righi, Rika Dialyna, Glauco Onorato, Milly, Harriet Medin, Gustavo de Nardo.
“As Três Máscaras do Terror” foi lançado em dvd pela Versátil Home Video
Eduardo Kaneco , 12/09/2016
Black Sabbath (film) Wiki
A banda
Black Sabbath - Changes [Legendado PT-BR]
Black Sabbath
Black Sabbath wiki
B͟l͟ack͟ ͟S͟a͟b͟b͟ath͟ ͟1͟9͟70 full álbum
BLACK SABBATH - "Paranoid" (Official Video)
17/2/22
No Tempo das Diligências, Stagecoach, 1939, John Ford
Filme no iutubi aqui verão colorida
Crítica | No Tempo das Diligências por Luiz Santiago 18 de julho de 2014
Da cidade de Tonto, no interior do Arizona, em direção ao Novo México, um território Apache: este é o trajeto da diligência que irá marcar a história do western por vários motivos e que contribuiria imensamente para colocar o nome de John Ford entre um dos diretores mais respeitados do cinema.
No Tempo das Diligências é fruto do apogeu do faroeste. Ele surgiu ao final da fase chamada de “a primeira travessia do deserto”, iniciada na década de 30, e é o filme que praticamente finda essa fase, dando início à primeira reforma interna do gênero, a “renovação” empreendida entre 1940 e 1946. Havia então uma pequena resistência dos estúdios ao gênero na época – no caso de financiarem westerns “classe A”, já que filmes “B” do gênero ainda eram largamente produzidos –, uma resistência que cresceria nas duas décadas seguintes, levando o western ao declínio a partir dos anos 60.
Foi nesse pequeno “impasse de produção” que John Ford se viu quando comprou os direitos do conto Stage to Lordsburg (adaptação de Bola de Sebo, de Guy de Maupassant) escrito por Ernest Haycox, e resolveu filmá-lo. A história foi rejeitada de cara pelos produtores Darryl F. Zanuck e Jack Warner, mas ganhou as graças de David O. Selznick, que propôs Gary Cooper e Marlene Dietrich para os papéis principais. Ford já conhecia muito bem o modo de trabalhar de Selznick e percebeu que o produtor queria fazer algo bastante luxuoso, o que ia totalmente contra a simplicidade dos filmes do diretor. Aproveitando-se da agenda ocupada de Selznick com as filmagens de …E o Vento Levou, Ford resolveu buscar financiamento em outro lugar e foi então que chegou ao produtor independente Walter Wanger.
Marcado por 22 anos de experiência na direção, John Ford vinha aprimorando um estilo cada vez mais rigoroso em seus filmes, não se furtando em apresentar grandes histórias mas mantendo a mesma simplicidade de seus primeiros longas, evitando floreios tanto estéticos quanto narrativos e apostando muitas fichas no desenvolvimento de seus personagens. Não é de se espantar que o diretor exigisse tanto dos roteiristas e utilizasse do texto para gerar impactos programados no decorrer da projeção. No caso de No Tempo das Diligências, observamos isso principalmente quando o personagem de John Wayne (que era amigo pessoal de Ford e já tinha trabalhado com ele em papéis menores nos filmes Minha Mãe, Quatro Filhos, Justiça do Amor, A Guarda Negra, Em Continência, Homens Sem Mulheres e Galanteador Audaz) aparece pela primeira vez, com um inesquecível distanciamento de foco para depois a câmera se aproximar quase indecisa do personagem, focando-o com perfeição.
Esse tratamento psicológico era um trunfo bem arquitetado por Ford em todos os seus longas metragens, apresentando em cada um deles elementos que marcariam o ponto sentimental ou cômico da obra (mesmo nos westerns) e que eventualmente nos traria símbolos espalhados por todo o filme, algo que poderia ser explorado em uma frase, como a oferta de ajuda de Lucy a Dallas, em uma das sequências finais; em algum objeto recorrente nas cenas, como o uísque de Doc Boon e as algemas de Ringo Kid; ou ainda elementos mitológicos do próprio western e da cultura popular, como a apresentação da “mão do homem morto” no pôquer de Luke Plummer, que estava prestes a morrer, ou a quase onipresença dos Apaches de Gerônimo.
Erguer um cenário claustrofóbico, como era a intenção do diretor, em um roteiro que trabalhasse elementos sociais de peso e fosse um western sobre segundas chances e enfrentamento de fantasmas pessoais não é algo fácil nem na teoria. E é aí que a escrupulosa direção de Ford entra em cena. O diretor explora o seu plano de fundo favorito (o Monument Valley, o Deserto de Mojave e outras paisagens) como um ponto fixo no espaço e vai desmembrando-o compassadamente, com as paradas da diligência, os pequenos conflitos em cada uma dessas paradas e a revelação clara da mudança de cada um dos passageiros, que enfrentam os Apaches na emocionante sequência do tiroteio no deserto.
O diretor de fotografia Bert Glennon captou com grande realismo cada uma das paisagens estabelecidas por Ford e conseguiu um bom efeito nas panorâmicas, especialmente quando contextualizadas a alguma ameaça, a exemplo do louvável jogo de “ida e volta” da diligência para os Apaches no topo de uma formação rochosa, observando a caravana. Esse jogo cênico é reforçado pela trilha sonora de Gerard Carbonara, que fugiu aos temas recorrentes do western clássico (ainda mais nessa fase do apogeu) e compôs uma peça de tom épico-dramático, com forte marcação de tempo em marcha destacando os metais em conjunto e nunca individualmente, usando dinamicamente as cordas para suavizar as quebras melódicas e dando espaço para cenas mais doces, como a do nascimento do bebê.
Por fim, o compositor ainda traz um interessante e sombrio tema para a batalha contra os indígenas, iniciando com forte percussão em crescendo e seguindo com um tema em tons menores que culmina com a repetição da linha quase militar do início da obra (aliás, a cavalaria tem um importante papel no filme, portanto, faz total sentido esse modelo de composição seguido por Carbonara).
O que incomoda em No Tempo das Diligências é a sua “segunda parte” (pós eventos ocorridos em Apache Wells), com a exploração mais familiar dada a alguns passageiros. Entendo essa abordagem como um desvio temático, principalmente de um tema que vinha sendo construído em outra linha até então – mesmo se levarmos em consideração as sugestões observadas dentro da diligência.
O engraçado é que ainda assim, o afeiçoar-se de Ringo Kid por Dallas e o desfecho da obra não retira do filme o seu posto de grandeza, apenas lhe concede um tom diferente daquele usado em quase sua totalidade.
No Tempo das Diligências é um western essencial. John Ford emprega em sua realização a larga experiência adquirida no gênero ao longo dos anos e realiza um filme que marcaria para sempre não só a sua carreira – há uma incrível semelhança entre a vingança de Ringo Kid e a sequência do tiroteio final em O Homem Que Matou o Facínora – mas também a história do cinema.
No Tempo das Diligências (Stagecoach) – EUA, 1939
Direção: John Ford
Roteiro: Ernest Haycox, Dudley Nichols, Ben Hecht
Elenco: Claire Trevor, John Wayne, Andy Devine, John Carradine, Thomas Mitchell, Louise Platt, George Bancroft, Donald Meek, Berton Churchill, Tim Holt, Tom Tyler
Duração: 96 min.
18/2/22
Una donna libera, 1954, Vittorio Cottafavi
Filme no iutubi aqui
A Free Woman é um filme de melodrama italiano de 1954, dirigido por Vittorio Cottafavi. Em 2008, o filme foi selecionado para entrar na lista dos 100 filmes italianos a serem salvos.
Movida por una irresistible ansia de independencia, Liana, poco antes de la boda, abandona a su prometido Fernando para huir con un músico llamado Gerardo. Tras esto se marcha a París donde se termina casando con un hombre rico, pero tras un año, se cansa y vuelve a su hogar. Una vez allí tiene una violenta discusión con Gerardo, que termina de manera trágica. (FILMAFFINITY)
18/2/22
Mães Paralelas, Madres paralelas, 2021, Pedro Almodovar
Mães Paralelas (2021): intenso, intrigante e repleto de personalidade. Usando de alegorias para os diferentes significados de maternidade, Almodóvar arranca outra bela performance de Penélope Cruz, ainda que não seja seu melhor trabalho.
Denis Le Senechal Klimiuc
Em uma Espanha repleta de cicatrizes — algumas das quais ainda estão abertas e expostas —, há muito o que resolver quando um filme de Pedro Almodóvar é anunciado. Desde que o pretensioso pôster de “Mães Paralelas” foi lançado, porém, a expectativa era de que o cineasta trouxesse uma de suas histórias mais intimistas, cujo protagonismo seria, mais uma vez, o universo feminino. Para apreciação de seu público, o cineasta foi além, e fez de seus título e premissa um pano de fundo para discutir sobre as diversas camadas da figura materna. É este o cerne deliciosamente filmado e apresentado ao espectador.
Janis (Penélope Cruz) é uma fotógrafa, cujo talento para tal ofício herdou de seu bisavô, como evidencia em alguns momentos do filme. Ao fotografar Arturo (Israel Elejalde), ambos se conectam pela química que instantaneamente nasce, mas também pelo fato de que ele poderia ajudá-la em uma situação tenebrosa, que se prolongava há décadas no povoado no qual Janis nasceu. Em um fosso, fechado muito tempo atrás por um grupo fascista, estavam as diversas vidas tiradas de pais, avôs e outros homens, em sua maioria, levados de suas famílias pelo posicionamento político. Ali, diversas mães criaram suas famílias sozinhas, abrindo uma ferida que nunca mais foi fechada. Como Arturo trabalha com escavações arqueológicas, sua figura se torna essencial.
Aqui, porém, as tais mães paralelas se formam em diferentes camadas. Como é de se esperar, existe uma subtrama melodramática que fisga o espectador no momento em que certas descobertas são feitas, o que o torna cúmplice direto de Janis. Porém, à medida em que o filme avança e resoluções são concretizadas, há duas constatações relevantes para a compra desta história: o talento costumeiro do roteiro de Almodóvar e o protagonismo de Penélope Cruz. Aliás, a atriz é magnética ao conseguir fazer com que todas as suas ações sejam humanas, ou seja, fáceis de serem assimiladas como erros e acertos de quem ama, o que nem sempre significa que ela aja da melhor forma possível. Além disso, o cineasta dá a Cruz e Smit cenas de entrega completa, e a química entre elas é forte desde os primeiros segundos, fazendo com que o amadurecimento de ambas, em fases diferentes da vida, seja sentido com a passagem do tempo.
Assim, apesar do pano de fundo político não ir adiante ao longo do segundo ato, servindo como introdução e conclusão do longa de maneira quase anticlimática, isso só não acontece porque as tramas criadas pelo roteiro conseguem se conectar através das duas personagens principais. O tempo passa rápido, mas para as diversas famílias que aguardaram a abertura do fosso sugerido no início da história, foi lento demais. Aquelas mulheres, acostumadas às cicatrizes da vida, se unem a Janis e Ana em uma comunhão que só tem significado definitivo quando os créditos finais surgem. Sim, há a dor de uma mãe que descobre uma troca terrível, e a descoberta de outra que tem muito a assimilar por um lado, mas que por outro quer apenas cuidar do que é seu. Há, também, as mães que tiveram suas crias tiradas a força, enquanto outras tantas precisaram abrir mão do significado de maternidade. Há o símbolo do estupro a tantas mulheres, e o estupro simbólico de um país que perde sua história quando tentam apagá-la.
Portanto, “Mães Paralelas” é um filme político, como o melhor do cinema, e traz Almodóvar destrinchando sutilmente costumes de sua Espanha, enquanto traça mais uma forte cor em sua filmografia, cada vez mais importante em decorrência de seu pioneirismo em falar sobre seres humanos antes que isso fosse moda. Não que a moda seja errada, mas a autenticidade do cineasta e de sua protagonista é muito bem escrita. Poderia haver mais nuances políticas, para dialogar com sua premissa, mas então não seria Almodóvar. Pode não ser seu melhor trabalho, mas é, certamente, digno de nota.
Guerra civil espanhola Guerra Civil Espanhola
21/2/22
Relâmpago, Inazuma, 1952, Mikio Naruse
Filme no iutubi aqui
Kiyoko (Hideko Takamine) é uma jovem que trabalha como guia turística em Tokyo. Kyoko deseja algo mais da vida do que um casamento negociado pela família, o que desagrada muito sua mãe e gera muitos conflitos. O roteirista e produtor japonês Mikio Naruse dirigiu cerca de 89 filmes. Dentre os cineastas japoneses, é conhecido por construir narrativas mais sombrias e dramáticas sobre a classe trabalhadora, dando destaque a protagonistas femininas. Também trabalha com o cotidiano familiar e com a interseção entre a cultura japonesa tradicional e a moderna. Mostra prorrogada | Clássicos do Cinema Japonês
Sobre Mikio Naruse (1905–1969)
21/2/22
A Garota Húngara, Félvilág, 2015, Attila Szasz
Filme no iutubi aqui
Crítica - 'A Garota Húngara (Demimonde)'
Conhecer o cinema ao redor do mundo é sempre um privilégio para todos. Pouco visado pelo público em geral, o cinema húngaro coleciona verdadeiras obras-primas como, ‘As Harmonias de Werckmeister’, ‘O Quinto Selo’, o recente ‘O Filho de Saul’ e muitos outros. Dessa vez, o filme do momento na casa dos magiares, disponível na Netflix é, ‘A Garota Húngara (Demimonde)’.
Década de 1910, Budapeste. A trama conta a história de três mulheres, a famosa prostituta Elza (Patricia Kovacs), sua governanta Rozsi (Dorka Gryllus) e sua nova empregada Kató (Laura Dobrosi). Juntas elas criam uma complexa e bizarra relação culminando em uma coisa: assassinato.
A direção requintada de Attila Szàsz instiga o espectador logo de cara utilizando a não linearidade do roteiro. Com o suspense inserido, Szàsz conta ‘A Garota Húngara’ à partir da visão da pequena Kató e, junto com ela, passamos a adaptar aquele ambiente luxuoso, sofisticado, ganancioso e ao mesmo tempo com indivíduos eminentes. Com isso, as distintas personalidades de Elza e Rozsi são bem definidas e vão se intensificando afetando o comportamento da nova empregada.
Assim a direção de Szàsz brilha ao retratar essas diferenças envolto de um subtexto rico. A disparidade entre promiscuidade e ingenuidade, o papel do homem e da mulher na sociedade, amor versus dinheiro são todos muito bem explorados e a cineasta não fez questão em escolher um lado, apenas representar seus ideais no período datado. Que por sinal é representado pelos belíssimos figurinos e uma fotografia meticulosa a base de tons azuis e sépia distinguindo os sentimentos dentro da trama: a tensão e o conforto.
E como um bom filme europeu, ‘A Garota Húngara’ segue um padrão clássico dos filmes europeus. O ritmo lento, enquadramentos sofisticados, frames luxuosos, uma trilha sonora realçando grandes momentos, temas impactantes e atuações fortes estão todos presentes aqui. Com maior destaque para a atriz Dorka Gryllus que transmite com perfeição a frustração e a dubiedade do personagem, e vale mencionar também as atrizes Patricia Kovacs e Laura Dobrosi.
Nesse quesito, os méritos também vão para a diretora Szàsz que soube extrair as melhores atuações do seu elenco feminino. Sua movimentação de câmera, e enquadramentos muitas vezes utilizando de close-ups foi essencial para demonstrar os verdadeiros sentimentos de cada personagem. Por outro lado, o elenco masculino tem pouco a oferecer pelo simples fato do roteiro não desenvolvê-los, e buscar sucintas explicações do passado de seus personagens, inclusive de Elza, com diálogos expositivos.
Mais próximo do drama e com um leve toque de mistério, ‘A Garota Húngara (Demimonde)’ não deve agradar a todos pela suas características do cinema europeu, mas para quem não tem problemas e se interessam pelas controversas de outros séculos, é um bom pedido.
22/2/22
Expresso Transiberiano, Transsiberian, 2008
Filme no iutubi aqui
Expresso Transiberian
“Tente tirar de mim todos os demônios, e tirará também todos os anjos”.
Anotação em 2009: O diretor americano Brad Anderson fez seu primeiro filme, The Darien Gap, de 1996, acumulando dívidas nos cartões de crédito. Para realizar Expresso Transiberiano, um thriller passado na China e na Rússia, teve dinheiro da Espanha, Inglaterra Alemanha e Lituânia – e atores de várias nacionalidades. Fez um bom filme.
Expresso Transiberiano é muito bem feito. Envolve o espectador, prende sua atenção, o deixa agoniado. Seus personagens são muito bem construídos, e todo o belo elenco internacional tem atuações marcantes. Mas, sobretudo, o filme, na minha opinião, estabelece definitivamente a jovem inglesa Emily Mortimer como uma grande atriz. A ação começa em Vladivostok, que, como sabem no mínimo todas as pessoas que já jogaram War na vida, fica no extremo Leste da Rússia, muito mais perto do Alasca que de Moscou. Num barco no porto de Vladivostok, um sujeito acaba de ser morto com uma faca na nuca; um detetive veterano (interpretado pelo sempre ótimo Ben Kingsley) e os policiais locais sabem que o crime tem a ver com o tráfico de drogas.
Corta, e estamos na China, onde um grupo de americanos faz trabalho social junto a crianças. No meio do grupo está o casal Roy (Woody Harrelson) e Jessie (Emily Mortimer, os dois na foto). Para voltar aos Estados Unidos, vão fazer o caminho mais complicado, lento e aventureiro – pegarão o famoso Expresso Transiberiano, que liga Pequim a Moscou ao longo de mais de 9 mil quilômetros e seis dias e seis noites de viagem. No trem, dividem a cabine com outro casal, Carlos (Eduardo Noriega), um espanhol, e Abby (Kate Mara), outra americana.
Num thriller, um belo retrato psicológico de quatro pessoas
Ao longo de quase toda a primeira metade do filme, o espectador acompanha a viagem dos dois casais, e fica conhecendo um pouco – ou bastante – quem são aquelas pessoas. E esta é uma das qualidades do filme: depois daquela abertura em que vemos uma vítima de homicídio violento, relacionado a tráfico de drogas, passamos quase metade do filme – um filme de ação, um thriller – sem que aconteça propriamente nada de extraordinário. Ficamos conhecendo os personagens; sabemos que algo virá, mas não temos a mínima idéia do que será, como, em torno do quê. Brad Anderson e Will Conroy, que divide com o diretor os créditos pelo roteiro, constroem um belo clima de suspense, a partir do perfil psicológico dos quatro viajantes.
A narrativa vai represando a sensação de agonia do espectador – até que os acontecimentos explodem, quase na metade do filme. Roy é uma personalidade simples, a mais simples dos quatro. É religioso, trabalha em serviços sociais de ajuda aos desvalidos, despossuídos; é bom, alegre, feliz, bem resolvido – e bastante inocente, alheio aos perigos e trapaças desta vida. Escolheu fazer aquela longa viagem de trem para proporcionar à mulher algum gosto de aventura. Woody Harrelson, um ator que sabe ter mil caras, mil personalidades, compõe o tipo com maestria.
Carlos é um sujeito expansivo, falante, comunicativo. O espectador desconfia de cara que tem algo mais complicado que isso, possivelmente alguma ligação com droga – mas nada é exposto claramente. O espanhol Eduardo Noriega também está ótimo no papel. Abby, a mulher de Carlos, é uma jovem com um quê de mistério. Ao contrário do marido, ou namorado, é bem fechada. Fala pouco, esconde-se atrás de uma maquiagem pesada, um tanto dark. Numa conversa com Jessie, que pergunta de onde ela, de onde é sua família, diz que é de Seattle, mas na verdade não é de lugar algum, e não tem família alguma para onde retornar depois das viagens ao exterior. A atriz Kate Mara, que eu não conhecia, tem o tipo físico perfeito para fazer Abby, e trabalha corretamente.
Jessie, a mulher do sempre feliz e inocente Roy, é de longe a figura mais complexa do grupo. Antes da metade do filme – e antes que os acontecimentos comecem a se atropelar, e a trama comece de fato a se desenhar –, veremos que ela já foi uma drogada; mudou de vida depois que conheceu Roy, o anjo bom, e conheceu Roy ao bater de frente contra o carro dele, bêbada. Agora, casada, passada dos 30 anos, está melhor, mais estável, mais contida – mas há muitos demônios em seu passado. Ela mesma diz isso, durante uma conversa dos quatro no restaurante do trem. Recusa a bebida que o sempre expansivo Carlos oferece, mas fuma muito, e Carlos diz que aquele veneno mata mais depressa. Roy rapidamente concorda, diz que tem feito o possível para afastá-la desse vício, o único pecado de sua mulher, e Jessie cita uma frase:
– “Tente tirar de mim todos os demônios, e tirará também todos os anjos”.
Emily Mortimer rouba o filme
Londrina nascida em 1971, Emily Mortimer ainda não é propriamente uma estrela, e talvez nem chegue a ser uma. O eventual leitor pode não ter ainda guardado o nome dela. Mas é uma atriz que já mostrou talento em vários filmes; o iMDB, enciclopédico, registra quase 50 trabalhos dela no cinema e/ou na TV, e este site já falou de quatro deles. Em A Sombra e a Escuridão, de 1996, faz um papel pequeno, como a esposa do engenheiro do Exército inglês contratado para construir uma ponte em Uganda no final do século XIX. Em 2004, fez uma mulher triste e solitária, uma típica Eleanor Rigby da canção, mãe de um garotinho surdo de 12 anos, no belo Querido Frankie; sua interpretação é extraordinária. No ano seguinte, 2005, fez Match Point, de Woody Allen – ela interpreta Chloe, a garota rica, simpática, inteligente, sensível, que se apaixona pelo alpinista social interpretado por Jonathan Rhys-Meyers.
E em 2008 nos brindou novamente com uma interpretação extraordinária em Cinturão Vermelho/Redbelt, de David Mamet. Quando vi o filme, anotei: “A inglesa Emily Mortimer, como a jovem advogada, dá um show. É uma maravilhosa atriz, que já havia me impressionado no belo e triste Querido Frankie; trabalhou com Woody Allen em Match Point, é uma artista a ser observada e seguida”. Não me embaraço muito em citar a mim mesmo; muitas vezes faço observações erradas, ou previsões que não se confirmam, mas, quando acerto, é claro que fico contente.
O outro grande ator inglês do filme, Ben Kingsley, que está na seqüência inicial do filme, vai reaparecer na segunda metade. Tinha ficado conhecendo Roy. Jessie o vê pela primeira vez num jantar no restaurante do trem; Roy o apresenta à mulher como Ilya Grinko, um detetive de departamento de narcóticos da Rússia, que está indo de Vladivostok para uma importante conferência em Moscou. Nessa seqüência, há um diálogo fantástico, fascinante. Diz Ilya-Ben Kingsley:
– “No tempo da União Soviética, uma autoridade como eu viajaria de avião, na primeira classe. Agora são 7 dias de trem.”
E Roy, o anjo inocente, que não percebe nada, sequer entende que o sujeito não está defendendo supostas maravilhas igualitárias do comunismo, e sim reclamando do fim das mordomias da nomenklatura privilegiada:
– “Espere aí, Ilya, não me diga que você sente falta da União Soviética. A União Soviética era um império sombrio do mal.”
– “Talvez. Éramos pessoas vivendo na escuridão, agora somos pessoas morrendo na luz. O que é melhor? Quando éramos União Soviética, um homem vivia até os 65 anos. Agora são 58 anos. Sei disso muito bem, porque tenho 58 anos.”
Mantém seu talento, o ex-durango Brad Anderson. Para meu gosto pessoal, usou no filme close-ups demais – mas eles se justificam, já que o filme é em boa parte um estudo de caráter, de personalidades, e ele trabalhou com atores de primeira qualidade. A verdade dos fatos é que ele não desaprendeu nada, na passagem do cinema independente (ele é o autor do simpático Próxima Parada, Wonderland/Next Stop Wonderland, marco importante, um grande sucesso do movimento indie) para o cinemão comercial com grana transnacional.
24/2/22
Filho Único, Hitori musuko, 1936, Yasujiro Ozu
Filme no iutubi aqui
Crítica | Filho Único (1936), por Luiz Santiago 30 de março de 2019
Primeiro filme falado de Yasujiro Ozu (o que explica os já esperados problemas de sincronização do som), Filho Único (1936) é um olhar realista para o sacrifício na criação dos filhos. A obra se semelhança à questão familiar em um ambiente social de pobreza ou miséria, mostrados pelo cineasta pouco tempo antes, em Uma Estalagem em Tóquio. Aqui, a problemática é vista sob uma perspectiva mais madura, mais bem acabada, narrando a vida de uma mãe solteira, operária em uma fábrica de seda, que faz o impossível para dar ao filho a oportunidade de acabar os estudos, dizendo que ele seria alguém importante, que lhe daria bastante orgulho na vida.
É um cinema que, em diversas ocasiões, olha para os trabalhadores, para os estudantes, para a gente humilde das vilas e cidades japonesas e imagina como essas pessoas lidam com os seus problemas e olham para o futuro. Em Filho Único, vemos o cotidiano e os dilemas em torno disso trabalhados de uma maneira exemplar.
Shin’ichi Himori, que interpreta o filho em fase adulta, vive em um conflito angustiante. Sua ida para Tóquio, para completar os estudos, não o colocou no patamar que ele imaginava que colocaria. Então vieram o casamento e o nascimento do filho para integrar a sua lista de responsabilidades imediatas, dificultando a perseguição de sonhos maiores, ao menos em curto prazo. Diante desta situação é que acontece a visita de sua mãe à cidade, e com ela, o constrangimento do filho ao apresentar seu status social para a velha (Chôko Iida), que ele imagina envergonhar.
Há algo a ser refletido aqui. Toda vez que falamos de “sucesso” e usamos o termo “vencer na vida” a gente imagina isso ligado ao dinheiro, às posses e coisas afins. O fato, porém, é que essas duas coisas não têm o mesmo significado para todos, e nós vemos um pouco disso aqui em Filho Único, tanto no diálogo da mãe de Ryosuke com uma colega de trabalho, na cena final do filme (e eu não acho que era apenas um subterfúgio dela para enganar a colega) quanto na forma como o cotidiano da família de Ryosuke é construído. O orgulho da mãe é genuíno quando ela fala do dinheiro que o filho deu à vizinha, a fim de que cuidasse do pequeno que levou um coice de um cavalo.
O senso comunitário, a caridade, o altruísmo e a entrega que alguns personagens de Ozu trazem para suas vidas (exemplos disso, nos anos 30, temos em obras como Onde Estão os Sonhos de Juventude? e Uma História de Ervas Flutuantes) serve para reforçar a profunda simplicidade da história e da estética do diretor, aqui já claramente reconhecível.
A elegância da câmera baixa e a atenção aos pequenos detalhes das casas são coisas que não passam batido pelo público e que certamente elevam o filme ao patamar lírico que normalmente atribuímos ao diretor. As coisas, em nossa vida, nem sempre saem da forma que a gente imaginou. Em Filho Único, esta máxima é colocada em cena para mostrar o futuro de um filho, observado pela mãe, na velhice.
Filho Único (Hitori musuko, 1936)
Direção: Yasujiro Ozu
Roteiro: Yasujiro Ozu, Tadao Ikeda, Masao Arata
Elenco: Chôko Iida, Shin’ichi Himori, Masao Hayama, Yoshiko Tsubouchi, Mitsuko Yoshikawa, Chishû Ryû, Tomoko Naniwa, Kiyoshi Aono, Jun Yokoyama, Eiko Takamatsu, Seiichi Katô, Tomio Aoki
Duração: 87 min.
Yasujiro Ozu documentary
Meu coração é muito cheio de palavras. O Cinema do Vazio de Yasujiro Ozu
Programa Metrópolis - Dica da Marina Person: O Cinema de Ozu
25/2/22
O Cardeal, The Cardinal, 1963, Otto Preminger
Filme no iutubi aqui
Sobre Tom Tryon (1926–1991)
O Cardeal, de Otto Preminger, Palavras de cinema
O Cardeal, de Otto Preminger
Seguir as regras da Igreja Católica é o desafio de Stephen Fermoyle (Tom Tryon). Antes de se tornar cardeal, ele trava embates com a política de sua instituição, com os velhos modos, com a diplomacia dos superiores. A impressão é que a Igreja sempre prefere o repouso à ação – imagem que ainda persiste para muita gente, religiosa ou não.
Desde os primeiros instantes, nos créditos, O Cardeal revela ser um filme de embates: o homem de preto caminha pelas estruturas, escadarias, ao lado de monumentos – ao mesmo tempo sobre eles, contra eles, em contraste, o pequeno contra o grande.
É a história de Fermoyle, de mais derrotas que vitórias. As principais estão ligadas a duas mulheres. Uma delas é sua irmã, a outra é uma jovem que conhece em Viena, por quem se apaixona em um momento de dúvida sobre os rumos da vida religiosa. A irmã está apaixonada por um rapaz judeu. Então padre, o protagonista tenta encontrar uma saída para o relacionamento, em Boston, cidade de sua família. Para tanto, o judeu deverá se converter ao catolicismo ou aceitar que os filhos sejam levados à igreja.
O impasse separa o casal. A irmã, interpretada por Carol Lynley, torna-se dançarina, cai no mundo; à frente, leva o irmão a assistir uma de suas apresentações, quando dança tango e aproxima o corpo do outro homem, ato pouco agradável ao padre.
O confronto com um novo universo também oferece, pela câmera de Otto Preminger, a entrada ao desconhecido com tamanho descomunal: em uma das melhores cenas, em plano-sequência, Fermoyle passa pela porta do teatro, espera encontrar a irmã, mas o que vê é uma cantora vestido como soldado, entre mulheres com pouca roupa.
O tamanho do espaço estranho, não mais distante, com o qual ele depara-se ao escolher os embates, mostra o quanto o alto Tryon pode ser apequenado. Ou o quanto a fotografia de Leon Shamroy valoriza o ambiente percorrido pelas personagens.
O herói consegue retirar a irmã desse meio libertino. Ela está grávida. Não se sabe quem é o pai. Levada ao hospital, ela só poderá ser salva com a morte da criança que carrega. A escolha – entre a vida dela ou a da criança – terá de ser feita pelo irmão, o padre, que segue os ensinamentos da igreja. Não matarás, aponta o mandamento.
Preminger evita o drama fácil ao deixar de lado pequenas reações, cortes fáceis, ainda que não resista, ao fim, à aproximação entre Fermoyle e a mulher que um dia amou, Annemarie (Romy Schneider), presa em Viena durante a ascensão nazista.
A mulher representa outro drama em sua jornada. Tal como ocorreu à irmã, ele poderia tê-la salvo. Poderia ter casado com ela, no passado, e abandonado a batina. Preferiu a igreja. Ela casou-se com outro, justamente um judeu. O resto já se sabe.
O rosto de tristeza do protagonista, enquanto se torna cardeal, leva ao passado. As memórias retornam. O caminho à gratificação, ao título, justifica seu olhar de tristeza: para homens como ele, a igreja não pode tomar distância da ação, das ruas. E ainda que esse sinal nem sempre soe como grito, nas menores passagens ele pode ser sentido, na polidez de Tom Tryon (na maneira como se despe do galã) ou mesmo ao não deixar escapar questões como a segregação racial e o totalitarismo.
Evita, felizmente, a mensagem fácil. Às vezes deixa de entregar a resolução de uma passagem, como o julgamento dos sulistas brancos que incendiaram uma igreja frequentada por negros. A obra de Preminger lança sua personagem como polo oposto aos cenários e ambientes, parte pequena entre eles, em batalha nem sempre gloriosa.
27/2/22
O Mistério do Farol, Keepers, 2018, Kristoffer Nyholm
O Mistério do Farol apresenta uma hipótese possível para o misterioso desaparecimento de três faroleiros na ilha de Flannan. O evento aconteceu em dezembro de 1900 nesse local completamente isolado no mar ao nordeste da Escócia.
Esses três desafortunados representam fases distintas de amadurecimento. Thomas (Peter Mullan) tem uns 60 anos de idade e 25 nessa profissão. James (Gerard Butler) está na casa dos 40, e o inexperiente Donald possui uns 20 anos. O jovem parece inapto para essa função, pois já no trajeto de barco até a ilha passa mal e vomita. Para piorar, Thomas e James não têm muita paciência com ele, o que logo causa atritos no grupo. Inclusive, embates físicos. Imagine, então, como essa situação se sustentará por seis semanas, prazo do turno deles.
Antes que o isolamento agrave o conflito entre os três faroleiros, algo inesperado acontece. Eles encontram um náufrago moribundo com um baú de madeira que, eles descobrem posteriormente, contém barras de ouro. Após a morte do viajante, e várias discussões, eles resolvem manter o baú para eles – numa curiosa alusão a um dos títulos originais do filme, “Keepers”, ou “Mantenedores”, como são chamados os faroleiros. Então, a já abalada paz se transformará em pesadelo real, pois outros homens aportarão na ilha atrás desse tesouro. Por fim, o arrependimento enlouquecerá esses trabalhadores.
O outro farol
O Mistério do Farol convida à comparação com O Farol (The Lighthouse), de Robert Eggers, lançado apenas um ano depois. O ambiente é similar, principalmente, nas cenas internas na cozinha do farol, onde acontecem as conversas, e os conflitos, dos faroleiros. Ademais, o isolamento sufocante provoca alterações comportamentais que tornam os homens mais agressivos, nos dois filmes. Além disso, em ambos, os mais jovens sofrem com o assédio moral dos mais experientes.
No entanto, a abordagem nas duas narrativas se distancia conforme a história transcorre. Aliás, conforme era esperado diante do perfil dos seus diretores. O dinamarquês Kristoffer Nyholm, de O Mistério do Farol, é um calejado diretor de séries para a TV. Ou seja, acostumado a trabalhar pragmaticamente em produções rápidas. Enquanto isso, o estadunidense Robert Eggers estreou na direção de longas com o terror estilizado de A Bruxa (The Witch, 2015).
Com isso, o farol de Eggers mira o filme artístico, enquanto o de Nyholm o entretenimento. Portanto, ao invés das inquietantes provocações interpretativas de O Farol, em O Mistério do Farol a tragédia resulta claramente da ambição que enlouquece os seus protagonistas.
Qual o melhor farol?
Porém, nenhum dos dois filmes consegue ser mais do que medianos. Kristoffer Nyholm, no início, parece até cair no erro de realizar algo com mais estilo, e movimenta desnecessariamente a câmera na sequência antes do embarque dos três faroleiros. Posteriormente, o diretor emprega esse recurso com mais propriedade na luta entre James e Donald. E escolhe melhor ainda quando opta pela elipse no trágico incidente que Thomas só testemunha pelos seus ouvidos, através da porta.
Enfim, nesse embate entre os dois faróis, tem uma pequena vantagem o filme de Nyholm, por não se perder nas tentações do estilo pelo estilo, pecado tão grave quanto o dos personagens de seu filme, que se deixam levar pela ambição.
02/03/22
Kimi: Alguém Está Escutando, Kimi, 2022
'Kimi', com Zoë Kravitz, fica esquecível ao não explorar protagonista. Filme de Steven Soderbergh reflete o mundo conectado da pandemia, mas usa aspecto sério como isca para a ação
Inácio Araujo, FSP, 02/03/2022
O primeiro problema em "Kimi" é saber quem de fato é Angela, a personagem vivida por Zoë Kravitz —sua protagonista e quase única personagem.
Objetivamente, ela trabalha como analista para a empresa Amygdala, inventora da criatura Kimi, similar a uma Siri ou Alexa. Diferente desses robôs, segundo propaga a empresa, Kimi é monitorada por humanos, o que faz com que os diálogos sejam menos, digamos, mecânicos, feitos pelo algoritmo. É baseado em Kimi que a empresa quer ganhar uma montanha de dinheiro. Angela fica no computador acompanhando as conversas e tratando de incorporar novas palavras e entendimentos a Kimi. Esse é o lado superficial de sua vida. Angela trata muito da saúde e faz exercícios, mas nunca sai de casa. Podemos pensar que a fobia foi adquirida durante a pandemia, já que até dos dentes Angela trata online. A bela garota de cabelos azuis parece bem intrigante.
O limite de seu mundo é a janela do apartamento, por onde ela contempla a vizinhança. Chega a marcar encontro com o simpático vizinho Terry, embora nunca tenha coragem nem sequer de cruzar a rua para conhecer o rapaz no food truck em frente. Saberemos depois que sua fobia do mundo exterior resulta de um estupro, o que não a impedirá de receber Terry em seu apartamento —onde ele entra meio na marra — nem de transar com ele.
Kimi dedica a maior parte de seu tempo ao trabalho. E, durante a escuta de uma ligação, identifica, ao fundo, a voz de uma mulher pedindo socorro. Estamos, pois, num registro bem hitchcockiano —as janelas do prédio em frente, a janela do computador (chamada habitualmente de tela) são os lugares centrais da trama. Além do crime sexual que, filtra daqui, filtra dali, se revela gravado na fita de Kimi.
Temos então dois mistérios — quem é Angela e o que ela escutou efetivamente. O restante diz respeito ao que acontecerá à garota. Ela terá de sair de seu apartamento, isso é certo, já que denuncia o que escutou à chefia da empresa.
Daí por diante, porém, o filme começa a mostrar limitações. Se Angela é perturbada mentalmente, o filme não trabalha sobre isso, a não ser de modo protocolar. Ela não pode estar ouvindo coisas? Isso passa ao largo do filme. Em troca, ela se verá pivô de uma imensa conspiração destinada a ocultar o que ela escutou, seja lá o que for. Entramos então numa seara tradicional e limitada —o filme de perseguição em que a moça terá de demonstrar uma habilidade de que até então parecia incapaz.
Desde então é de uma luta entre profissionais contra uma amadora. Um conflito desigual, é claro, mas em que se situa a melhor parte do filme, a ação.
O fato de a ação demorar para acontecer pode prejudicar o desempenho do longa a olhos mais acostumados à agitação contínua. Mas o fato de ser, de longe, a parte mais interessante do filme demonstra que a questão, que me parece central, nunca Steven Soderbergh se empenhou em responder –quem é, afinal, Angela?
Faz parte de seu comportamento mais frequente como cineasta –lançar uma isca de questões "sérias", para depois melhor se ajeitar no filme bem "mainstream", de grande aceitação.
"Kimi" é, em resumo, um filme que se elabora a partir de dados muito presentes na atualidade –tecnologia (computação, automatismo) em confronto com fatores humanos (agressões sexuais) e a dupla grandes corporações e gangsterismo formando um conjunto indissociável.
Nenhuma das preocupações levantadas ao longo da trama é injustificável, ao contrário. Existe nelas algo de excessivamente conhecido, quase consensual. O interesse mais duradouro poderia vir da soma desses fatores. Mas não é a soma que interessa aqui, e sim o produto. Um produto de consumo, como são Siri, Alexa, Kimi. Isso é que faz com que o novo filme de Soderbergh seja facilmente digerível e também facilmente esquecível, a não ser pelo potencial estelar de Kravitz.








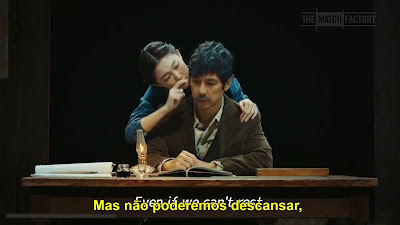











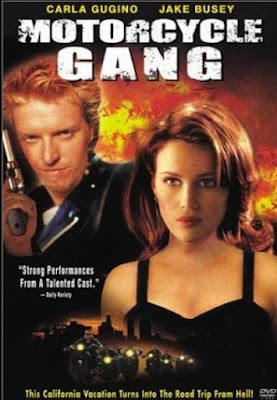























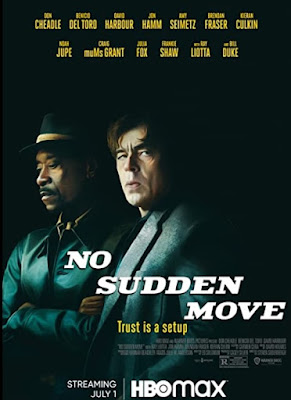









































Nenhum comentário:
Postar um comentário